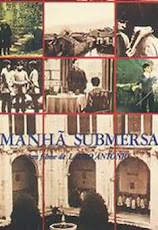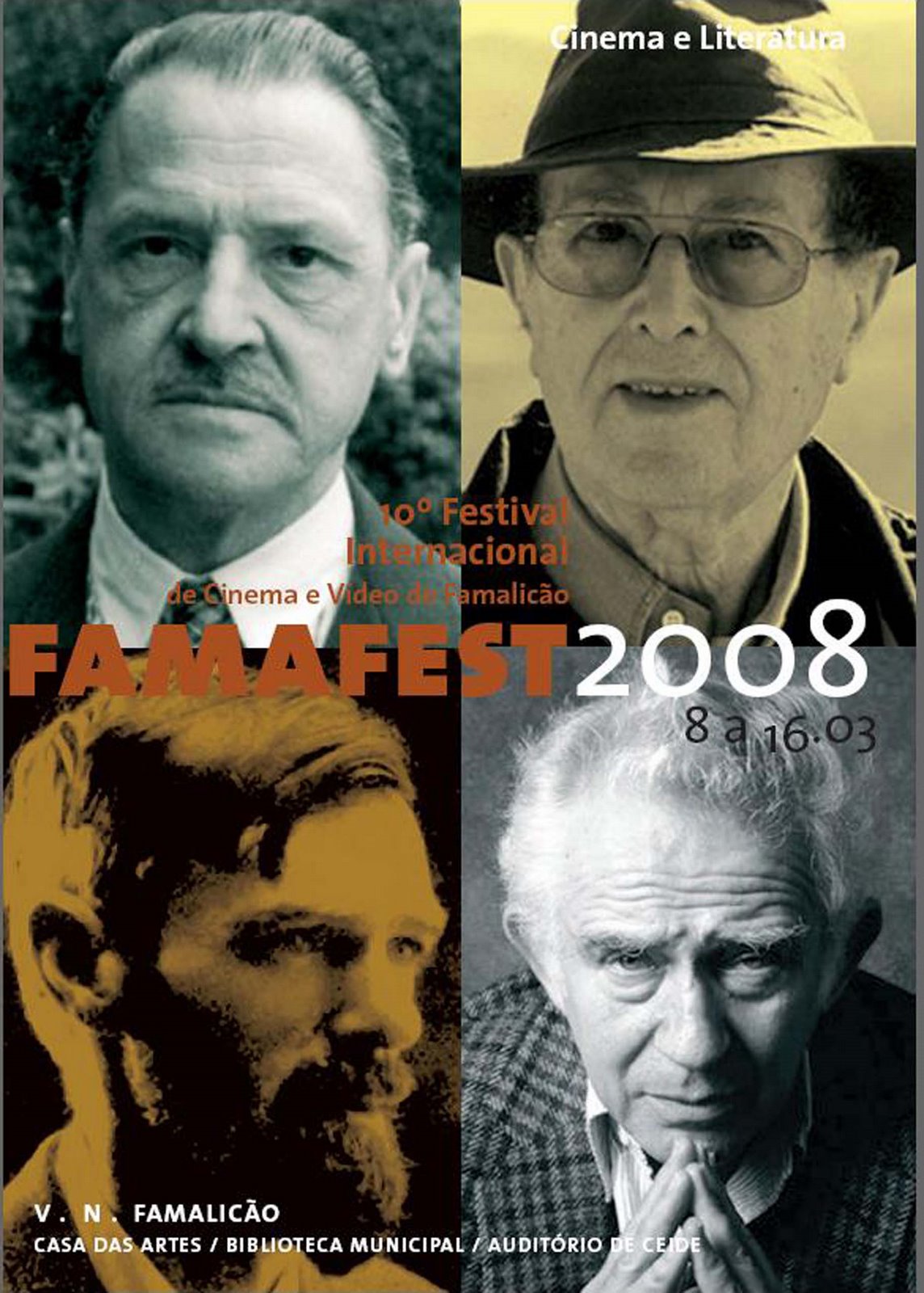A VERDADE E SÓ A VERDADE
Na realidade

Nos alicerces desta obra está a jornalista Judith Miller, nascida em 1948 em Nova Iorque, que se tornou uma polémica e contestada jornalista de investigação trabalhando no “New York Times”. Especialista em assuntos do Médio Oriente, de Árabes e de terrorismo internacional, nomeadamente bioterrorismo, Judith Miller desenvolveu várias reportagens sobre exilados políticos iraquianos que permaneciam nos EUA, tal como Ahmed Chalabi, que lhe serviam como fonte de informação privilegiada.
Em 2005, vê-se envolvida num caso controverso que abalou a América e que ficou conhecido pela designação “Cooper-Miller-Novak”. É especialmente este caso que serve de inspiração ao filme “Nothing But The Truth” que, neste caso, é tudo menos a verdade sobre o que então se passou e sobre a personalidade de Judith Miller.
Judith Miller começou a sua carreira de jornalista no “New York Times” em 1977. Em 1986 já era manifesta a sua simpatia pelos falcões americanos, ao escrever uma série de artigos sobre a Líbia de Mouammar Kadhafi, que muitos incluíram numa campanha de desinformação sobre aquele país, campanha essa orquestrada pelo almirante John Poindexter, depois caído em desgraça. Em 1993, casa com Jason Epstein, escritor e editor literário. Depois de 2000, Judith Miller vê-se sobrecarregada de acusações, todas elas com a mesma orientação política: ela servia os interesses da administração Bush.
Publica falsas informações sobre a existência de armas de destruição massiva no Iraque (mais tarde o jornal explica que cinco dos seus seis artigos continham informação falsa), descobre possível material (tubos metálicos) que se destinavam ao Iraque e que ela conota com a fabricação de armas atómicas (o que depois alguns cientistas contradizem), afirma ter recebido uma carta no seu escritório do NYT, contendo antrax, numa altura em que vários meios de comunicação social americanos receberam realmente cartas com antrax, como ABC News, CBS News, NBC News ou New York Post, todos em Nova Iorque, ou ainda o National Enquirer na Flórida. Ou os senadores Tom Daschle e Patrick Leahy, em Washington. Deste ataque resultaram 22 pessoas infectadas, das quais cinco morreram, mas, analisada a carta de Judith Miller, veio a verificar-se que não era antrax o que continha. Nesse ano ela recebe o Prémio Pulitzer sobre as suas investigações sobre a Al-Qaida e Oussama Bin Laden.
Aquando da morte de Yasser Arafat, dirigente palestiniano, a necrologia aparecida no NYT (11 de Novembro de 2004) continha gritantes erros, e fora redigida por Miller. Choveram mais críticas, o que voltaria a acontecer com o caso “Cooper-Miller-Novak”. Que se resume assim:
Judith Miller escreve no “New York Times”, que Valerie Plame, mulher do diplomata Joe Wilson, era agente da CIA. Pensa-se que foi a própria Casa Branca a espalhar a notícia como forma de manchar a honra de Joe Wilson e mulher, dado que o diplomata havia criticado a política da administração Bush, acusando-o de impor uma guerra sobre falsas informações. Em 6 de Julho de 2005, Judith Miller é presa porque se recusa a revelar as fontes em que se baseara para denunciar uma agente da CIA. Nos EUA denunciar um agente secreto é crime. Permanece algumas semanas em prisão, mas, em 30 de Setembro, admite depor, dado que a sua fonte aceitou levantar a confidencialidade. Em Novembro, depois de um acordo negociado entre a jornalista e o NYT, afasta-se do jornal e escreve um texto dirigido ao editor do NYT, onde explica a demissão.

Na óptica de Judith Miller
O Adeus de Judith Miller (9 de Novembro de 2005)
Em 6 de Julho escolhi ir para a prisão para defender o meu direito de jornalista de proteger uma fonte confidencial, o mesmo direito que permite que advogados garantam a confidencialidade dos seus clientes, padres a de seus paroquianos e médicos ou psicoterapeutas a de seus pacientes. Embora 49 estados tenham estendido este privilégio a jornalistas, pois sem tal protecção a imprensa livre não pode existir, não há lei federal equivalente. Escolhi ir para a prisão não apenas para honrar meu juramento de confidencialidade, mas também para dramatizar a necessidade desta lei federal.
Após 85 dias, mais que o dobro de tempo que qualquer outro jornalista americano passou na cadeia por esta causa, concordei em testemunhar perante o grande júri do procurador especial Patrick J. Fitzgerald sobre as minhas conversas com a minha fonte, I. Lewis Libby Jr. Fiz isso somente depois de as minhas duas condições terem sido atendidas: primeiramente, o Sr. Libby libertou-me voluntariamente, por escrito e por telefone, da minha promessa de proteger as nossas conversas; e, em segundo, o procurador especial limitou as suas perguntas somente às questões relevantes ao caso Valerie Plame Wilson. Diferentemente do que afirmaram relatos inexactos, estes dois acordos não poderiam ter sido alcançados antes de eu ter ido para a prisão. Sem eles, eu ainda estaria na cadeia, talvez, advertiram os meus advogados, acusada de obstrução da justiça, um crime. Embora alguns colegas tivessem discordado da minha decisão de testemunhar, permanecer na cadeia após ver atendidas minhas condições pareceria um martírio autólatra ou pior, um esforço deliberado para obstruir a investigação sobre crimes sérios do procurador.
Em parte por essas objecções de alguns colegas, decidi-me, após 28 anos e com sentimentos misturados, deixar o Times. Sinto-me honrada por ter feito parte deste jornal extraordinário e orgulhosa de minhas realizações – um Pulitzer, um DuPont, um Emmy e outros prémios –, mas triste por deixar minha casa profissional.
Mas principalmente escolhi demitir-me porque nos últimos meses me transformei em notícia, algo que um repórter do New York Times nunca quer ser.
Mesmo antes de ir para a prisão eu já me tinha transformado num pára-raios da fúria pública sobre as falhas da área de informações que ajudaram a levar o nosso país para a guerra. Diversas matérias que escrevi ou co-escrevi foram baseadas nesta falha dos serviços secretos, e em Maio de 2004 o Times concluiu, em nota dos editores, que a cobertura deveria ter reflectido um cepticismo maior.
Num discurso que fiz no Barnard College em 2003, um ano antes da publicação desta nota, perguntei se as informações dos serviços secretos sobre armas de destruição em massa (ADM) eram meramente erradas, ou se eram exageradas ou mesmo falsificadas. Acreditei então, e ainda acredito, que a resposta à má informação é mais reportagem. Lamento que não me tenha sido permitido buscar respostas para as perguntas que levantei em Barnard. A falta das respostas continua a corroer a confiança na imprensa e no governo.
O direito de resposta e a obrigação de corrigir imprecisões são também marcas de uma imprensa livre e responsável. Estou satisfeita por Bill Keller, editor-executivo do Times, finalmente ter esclarecido as observações feitas por ele, sem apoio nos factos e pessoalmente dolorosas. Alguns de seus comentários sugeriram insubordinação da minha parte. Eu sempre escrevi as matérias que me cabiam de acordo com as normas éticas e de apuramento da verdade do jornal, e cooperei com as decisões editoriais, mesmo quando delas discordei.
Saúdo a página editorial do Times por advogar uma lei federal de protecção dos jornalistas antes, durante e depois da minha prisão e por apoiar recentemente, apenas duas semanas atrás, minha disposição de ir para a cadeia em defesa deste princípio vital. Quero agradecer sobretudo aos colegas que me apoiaram depois de ter sido criticada nessas páginas. A minha resposta a esta crítica pode ser lida na íntegra no meu site: JudithMiller.org.
Continuarei a defender uma lei federal de protecção do jornalista. Nos meus escritos futuros, pretendo chamar a atenção para as ameaças internas e externas às liberdades no nosso país – al-Qaida e outras formas de extremismo religioso, terrorismo convencional e com ADM e o sigilo crescente no governo em nome da segurança nacional –, assuntos que têm definido há muito tempo o meu trabalho. Saio sabendo também que o Times continuará a sua tradição de excelência que o tornou indispensável aos seus leitores, um padrão para os jornalistas e um reduto da democracia.”
 A VERDADE E SÓ A VERDADE
A VERDADE E SÓ A VERDADENo filme de Rod Lurie
Desta feita, o caso da jornalista Judith Miller e da sua polémica investigação ao serviço do “New York Times” serve não tanto para ser adaptada fielmente, mas como base para ficcionar um caso idêntico, mas curiosamente de sinal contrário. Enquanto Judith Miller era acusada de direitista e apologista de Bush, o que argumentista e realizador de “Nothing But The Truth” faz é rigorosamente algo de efeito oposto, um libelo na defesa de princípios e de comportamentos que defendem a liberdade de imprensa e do jornalista, lutando pela confidencialidade das fontes. E porquê? O jornalista vive muitas vezes de dicas “off de record”, que poderá utilizar caso não mencione as fontes. Esta prática é discutível, mas tem vantagens e desvantagens democráticas (ambas exemplificadas ou no caso verídico e ou no ficcionado de Judith Miller). Por mim, acho que o anonimato nunca foi bom conselheiro em democracia, mas a verdade é que se não fosse ele não teríamos tido conhecimento do Watergate, para só citar um exemplo do conhecimento geral.
Em “Nothing But The Truth” a jornalista em causa chama-se Rachel Armstrong (Kate Beckinsale) e é igualmente repórter num (fictício) jornal diário de grande tiragem na América. É ela que descobre que Erica Van Doren (Vera Farmiga), mulher de um diplomata norte-americano que escreveu um artigo contra a política externa da Casa Branca, pertence à CIA. Erica Van Doren viajou pela América Latina e investigou se a Venezuela estivera ou não associada ao assassinato de um presidente dos EUA. Retirou dessa investigação conclusões negativas, que o governo resolveu ignorar para poder actuar em território venezuelano. Dar a conhecer a identidade de agente secreta de Erica Van Doren pode ser uma manobra da própria administração Bush, para desprestigiar a sua investigação, ou simplesmente uma forma de pressão, sobre a comunicação social e sobre as “fontes informativas” anónimas. O governo, estribado numa lei que permite perseguir quem denuncie a identidade de agentes secretos, e servindo-se de uma outra lei, federal, que obriga à identificação de fontes, coloca Rachel Armstrong em tribunal, respondendo perante um grande júri, num processo dirigido pelo promotor público “especial” destacado para este caso, Patton Dubois (Matt Dillon).
O filme acompanha esta batalha jurídica, e a luta do elegante advogado Albert Burnside (Alan Alda), que, de início, parece mais interessado nos seus fatos de marca e na sua aparência cosmopolita, mas que finalmente, empolgado pela causa, tudo fará para ajudar Rachel Armstrong que se vê envolvida num escabroso processo, com direito a prisão (mais de 350 dias), humilhação pública, violenta tareia na cela, afastamento de marido e filho, críticas de colegas, levando mesmo ao assassinato de Erica Van Doren, executado por um demente extremista.
O filme é particularmente interessante, eficaz na sua narrativa, bem interpretado, com saliência para Kate Beckinsale, Matt Dillon (excelente em Patton Dubois, que ele interpreta como se fosse o “bom da fita”, segundo palavras do próprio), Angela Bassett e Alan Alda (bom regresso à ribalta num papel à sua medida). Não será obviamente um filme inesquecível, a sua construção é por demais banal a nível cinematográfico, mas não deixa de tratar um tema forte e importante, fazendo-o de forma interessante e inteligente, que permite relançar uma polémica que a todos diz respeito.
Título original: Nothing But The Truth
Realização: Rod Lurie (EUA, 2008); Argumento: Rod Lurie; Produção: Dennis Brown, Marc Frydman, David Glasser, William J. Immerman, Rod Lurie, James Spies, Bob Yari; Música: Larry Groupé; Fotografia (cor): Alik Sakharov; Montagem: Sarah Boyd; Casting: Mary Jo Slater; Design de produção: Eloise Crane Stammerjohn; Guarda-roupa: Lynn Falconer; Maquilhagem: Gloria Belz, Janice Byrd; Direcção de Produção: Ed Cathell III, Buddy Enright, Jill Greenblatt, Shana Fischer Huber, Linda L. Miller; Assistentes de realização: John Greenway, Thomas A. Reilly, Scott Rorie; Departamento de arte: Rachel Boulden, Frank Hendrick, Dane Moore; Som: Anna MacKenzie; Efeitos visuais: Daniel Kumiega, Curt Miller, Doug Spilatro; Companhias de produção: Battleplan Productions, Yari Film Group (YFG); Intérpretes: Kate Beckinsale (Rachel Armstrong), Matt Dillon (Patton Dubois), Angela Bassett (Bonnie Benjamin), Alan Alda (Alan Burnside), Vera Farmiga (Erica Van Doren), David Schwimmer (Ray Armstrong), Courtney B. Vance (Agente O'Hara), Noah Wyle (Avril Aaronson), Floyd Abrams (Juiz Hall), Preston Bailey (Timmy Armstrong), Kristen Bough (Allison Van Doren), Julie Ann Emery, Robert Harvey, Michael O'Neill, Kristen Shaw, Angelica Torn, Jamey Sheridan, Pamela Jones, Jennifer McCoy, David Bridgewater, Jenny Odle Madden, Rod Lurie (Larry), Janie Paris, Jim Palmer, Clay Chamberlin, Joseph Murphy, Ashley LeConte Campbell, Scott Williamson, Dan Abrams, Elizabeth Annewilson, Jon W. Sparks, Erin Dangler, Randall Hartzog, Craig Wright, Phil Darius Wallace, Kelly Holleman, Allen O. Battle III, Teri Itkin, Angie Gilbert, Antonio Morton, Blake Brooks, Carol Russell-Woloshin, Verda Davenport, Robert P. Campbell, Michael Detroit, Jeffrey W. Bailey, Garnet Brooks, William J. Immerman, D'Army Bailey, Lowell Perry, etc. Duração: 108 minutos; Distribuição em Portugal: Atalanta Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos; Locais de filmagens: Memphis, Tennessee, EUA; Estreia em Portugal: 30 de Julho de 2009.





 De Philip Roth, "O Animal Moribundo", citações:
De Philip Roth, "O Animal Moribundo", citações: “(…) Enquanto cresci, o homem não era emancipado no reino sexual. Era um homem de segunda apanha. Era um ladrão no reino sexual. Surripiávamos uma apalpadela. Roubávamos sexo. Adulávamos, suplicávamos, lisonjeávamos, insistíamos - todo o sexo exigia luta, tinha de ser disputado aos valores, senão à vontade da rapariga. O conjunto de regras determinava que tínhamos de impor a nossa vontade à rapariga. Era assim que ela era ensinada a manter o espectáculo da sua virtude. Ficaria confuso se uma rapariga comum se oferecesse, sem uma infinita importunação, para quebrar o código e praticar o acto sexual. Porque ninguém, de qualquer dos sexos, tinha alguma noção de que recebia à nascença um direito erótico. Era desconhecido. Ela podia, se estivesse caída por nós, concordar com uma punheta - que significava essencialmente usar a nossa mão com a dela como um encaixe -, mas que alguém consentisse alguma coisa sem o ritual do cerco psicológico, de perseverante e monomaníaca tenacidade e exortação, bem, isso era impensável. Não havia, com certeza, possibilidade de conseguir um broche a não ser usando de uma perseverança sobre-humana. Eu consegui um em quatro anos de universidade. Era tudo quanto nos era permitido. Na cidade rústica das Catskill, onde a minha família tinha um pequeno hotel de férias e eu atingi a maioridade nos anos quarenta, a única maneira de ter sexo consensual era ou com uma prostituta ou com alguém que fora a nossa namorada durante a maior parte da nossa vida e com quem toda a gente calculava que íamos casar. E nesse caso pagávamos o que devíamos, pois frequentemente casávamos com ela.” (pag.61)
“(…) Enquanto cresci, o homem não era emancipado no reino sexual. Era um homem de segunda apanha. Era um ladrão no reino sexual. Surripiávamos uma apalpadela. Roubávamos sexo. Adulávamos, suplicávamos, lisonjeávamos, insistíamos - todo o sexo exigia luta, tinha de ser disputado aos valores, senão à vontade da rapariga. O conjunto de regras determinava que tínhamos de impor a nossa vontade à rapariga. Era assim que ela era ensinada a manter o espectáculo da sua virtude. Ficaria confuso se uma rapariga comum se oferecesse, sem uma infinita importunação, para quebrar o código e praticar o acto sexual. Porque ninguém, de qualquer dos sexos, tinha alguma noção de que recebia à nascença um direito erótico. Era desconhecido. Ela podia, se estivesse caída por nós, concordar com uma punheta - que significava essencialmente usar a nossa mão com a dela como um encaixe -, mas que alguém consentisse alguma coisa sem o ritual do cerco psicológico, de perseverante e monomaníaca tenacidade e exortação, bem, isso era impensável. Não havia, com certeza, possibilidade de conseguir um broche a não ser usando de uma perseverança sobre-humana. Eu consegui um em quatro anos de universidade. Era tudo quanto nos era permitido. Na cidade rústica das Catskill, onde a minha família tinha um pequeno hotel de férias e eu atingi a maioridade nos anos quarenta, a única maneira de ter sexo consensual era ou com uma prostituta ou com alguém que fora a nossa namorada durante a maior parte da nossa vida e com quem toda a gente calculava que íamos casar. E nesse caso pagávamos o que devíamos, pois frequentemente casávamos com ela.” (pag.61)




 O problema hoje é outro. Por exemplo: saber quem é que vai ver “As Praias de Agnès", obviamente um filme “diferente”. Quem tem agora curiosidade para ver algo “diferente”, surpreendente? Se o olharmos como um todo, pode chamar-se uma autobiografia centrada sobretudo sobre o passado cinematográfico da autora. Mas, analisado, quadro a quadro, mescla memórias com documentarismo, ficção com realidade. Para a maioria dos espectadores de hoje, a primeira questão que se põe é mesmo saber de que Agnès estamos a falar. Quem é Agnès Varda?, que nunca foi uma cineasta de grande público (apesar de ter tido os seus sucessos, e de nem sequer ser uma autora “difícil”), mas é seguramente um dos grandes nomes do cinema de autor francês.
O problema hoje é outro. Por exemplo: saber quem é que vai ver “As Praias de Agnès", obviamente um filme “diferente”. Quem tem agora curiosidade para ver algo “diferente”, surpreendente? Se o olharmos como um todo, pode chamar-se uma autobiografia centrada sobretudo sobre o passado cinematográfico da autora. Mas, analisado, quadro a quadro, mescla memórias com documentarismo, ficção com realidade. Para a maioria dos espectadores de hoje, a primeira questão que se põe é mesmo saber de que Agnès estamos a falar. Quem é Agnès Varda?, que nunca foi uma cineasta de grande público (apesar de ter tido os seus sucessos, e de nem sequer ser uma autora “difícil”), mas é seguramente um dos grandes nomes do cinema de autor francês. O que obviamente volta a acontecer em “As Praias de Agnès", uma aventura individual, que coloca em destaque algumas das obsessões e dos fantasmas da autora, desde o seu devotado amor ao cinema, até o seu gosto pelas praias, o seu amor por Jacques Demy, as suas preocupações políticas e sociais (feminismo, a revolução cubana, Maio de 68, movimentos de emancipação nos EUA, esquerda europeia, etc.), as suas pesquisas estéticas, a sua delicadeza de olhar e de sentir. O filme é um mosaico de recordações e de vivências que nos restituem uma personalidade e um olhar que fascinam. Uma obra inesperada, surpreendente, que nos mostra que o cinema pode ser algo de deslumbrante e de perturbador. Avisamos: não é um filme igual aos outros. É diferente. Por isso tão cativante.
O que obviamente volta a acontecer em “As Praias de Agnès", uma aventura individual, que coloca em destaque algumas das obsessões e dos fantasmas da autora, desde o seu devotado amor ao cinema, até o seu gosto pelas praias, o seu amor por Jacques Demy, as suas preocupações políticas e sociais (feminismo, a revolução cubana, Maio de 68, movimentos de emancipação nos EUA, esquerda europeia, etc.), as suas pesquisas estéticas, a sua delicadeza de olhar e de sentir. O filme é um mosaico de recordações e de vivências que nos restituem uma personalidade e um olhar que fascinam. Uma obra inesperada, surpreendente, que nos mostra que o cinema pode ser algo de deslumbrante e de perturbador. Avisamos: não é um filme igual aos outros. É diferente. Por isso tão cativante.



 Em 1936, Piaf assina contrato com a Polydor e lança o primeiro disco, "Les Mômes de la Cloche", que se torna sucesso imediato. A desdita de Piaf não pára. A 6 de Abril desse ano, Leplée é assassinado em casa e Piaf é acusada de cúmplice. Ilibada, nunca deixaria de ver pesar sobre a sua cabeça alguma responsabilidade sobre esse assassinato, dado que os carrascos de Leplée eram conhecidos de Piaf. Relança a carreira com Raymond Asso, com quem também se envolve emocionalmente. É este quem lhe muda o nome artístico de "La Môme Piaf" para "Édith Piaf" e quem encomenda a Marguerite Monnot canções que focassem sobretudo o passado de Piaf nas ruas. Raymond obriga Piaf trabalhar arduamente para se tornar uma cantora profissional de Music Hall.
Em 1936, Piaf assina contrato com a Polydor e lança o primeiro disco, "Les Mômes de la Cloche", que se torna sucesso imediato. A desdita de Piaf não pára. A 6 de Abril desse ano, Leplée é assassinado em casa e Piaf é acusada de cúmplice. Ilibada, nunca deixaria de ver pesar sobre a sua cabeça alguma responsabilidade sobre esse assassinato, dado que os carrascos de Leplée eram conhecidos de Piaf. Relança a carreira com Raymond Asso, com quem também se envolve emocionalmente. É este quem lhe muda o nome artístico de "La Môme Piaf" para "Édith Piaf" e quem encomenda a Marguerite Monnot canções que focassem sobretudo o passado de Piaf nas ruas. Raymond obriga Piaf trabalhar arduamente para se tornar uma cantora profissional de Music Hall. É a partir da vida de Édith Piaf que a dramaturga inglesa Pam Gems escreve o musical “Piaf”, o novo espectáculo estreado em Lisboa por Filipe La Féria, depois de ter passado em Angra do Heroísmo (8 de Maio) e Porto (de 28 de Maio a 9 de Julho), com Wanda Stuart e Sónia Lisboa a alternarem na composição da figura de Édith Piaf.
É a partir da vida de Édith Piaf que a dramaturga inglesa Pam Gems escreve o musical “Piaf”, o novo espectáculo estreado em Lisboa por Filipe La Féria, depois de ter passado em Angra do Heroísmo (8 de Maio) e Porto (de 28 de Maio a 9 de Julho), com Wanda Stuart e Sónia Lisboa a alternarem na composição da figura de Édith Piaf. Vi por duas vezes “Piaf”, uma no Porto, com Sónia Lisboa, outra em Lisboa, com Wanda Stuart. O palco mais intimista do Porto parecia favorecer o espectáculo, mas visto no Politeama, não perde nada e, paradoxalmente, ganha amplitude. Já o elenco masculino no Porto me parecia não estar à altura do elenco feminino, todo ele muito bom. Na verdade, por virtude do que atrás já dissemos, o original de Pam Gems apenas aponta figuras, em traços rápidos, por vezes caricaturais. É quase impossível um actor dar vida a um tal estereótipo. Mas o elenco de Lisboa (quase integralmente o do Porto, com um ou outro retoque, por exemplo Rui Andrade, que faz bastante bem, em Lisboa, a figura de Theo Sarapo) sai-se bem, não destoando do conjunto. E chegamos às actrizes: Paula Sá é uma surpreendente Marlene, conseguindo criar uma personagem em duas ou três aparições, Noémia Costa deve ter a melhor representação da sua carreira, compondo uma inesquecível Toine, e Sónia Lisboa e Wanda Stuart, em registos diversos, oferecem-nos duas Piafs que vale a pena ver (em dias consecutivos). Sónia Lisboa, que não conhecia, tem uma voz notável e dá-nos uma Piaf mais realista; Wanda Stuart, que conheço bem e admiro há anos, brinda-nos com uma perfomance quase expressionista, com a voz que todos conhecemos, e um gosto excessivo pelo gesto, pelo ritus facial, pela expressividade do corpo, como uma emanação da alma. Devo confessar que de início não aderi logo, mas depois aplaudi entusiasmado.
Vi por duas vezes “Piaf”, uma no Porto, com Sónia Lisboa, outra em Lisboa, com Wanda Stuart. O palco mais intimista do Porto parecia favorecer o espectáculo, mas visto no Politeama, não perde nada e, paradoxalmente, ganha amplitude. Já o elenco masculino no Porto me parecia não estar à altura do elenco feminino, todo ele muito bom. Na verdade, por virtude do que atrás já dissemos, o original de Pam Gems apenas aponta figuras, em traços rápidos, por vezes caricaturais. É quase impossível um actor dar vida a um tal estereótipo. Mas o elenco de Lisboa (quase integralmente o do Porto, com um ou outro retoque, por exemplo Rui Andrade, que faz bastante bem, em Lisboa, a figura de Theo Sarapo) sai-se bem, não destoando do conjunto. E chegamos às actrizes: Paula Sá é uma surpreendente Marlene, conseguindo criar uma personagem em duas ou três aparições, Noémia Costa deve ter a melhor representação da sua carreira, compondo uma inesquecível Toine, e Sónia Lisboa e Wanda Stuart, em registos diversos, oferecem-nos duas Piafs que vale a pena ver (em dias consecutivos). Sónia Lisboa, que não conhecia, tem uma voz notável e dá-nos uma Piaf mais realista; Wanda Stuart, que conheço bem e admiro há anos, brinda-nos com uma perfomance quase expressionista, com a voz que todos conhecemos, e um gosto excessivo pelo gesto, pelo ritus facial, pela expressividade do corpo, como uma emanação da alma. Devo confessar que de início não aderi logo, mas depois aplaudi entusiasmado.

 Recuemos até à década de 60. “A Terceira Onda” foi uma curiosa experiência levada a cabo por Ron Jones, professor de História Contemporânea, no “Cubberley High School”, na Califórnia, na qual procurava dar resposta aos seus alunos que achavam impossível que um país como a Alemanha tivesse aderido a uma aventura louca e assassina como foi o III Reich e o nazismo. Os alunos não acreditavam que fosse possível manipular as pessoas desta forma, até elas perderem a noção do que faziam. Ou então, como muitos responsáveis pelos mais bárbaros actos se desculpavam, explicando que “apenas cumpriam ordens superiores”. Como era possível uma delirante ideologia como a nazi passar por algo saudável? Como era possível conceber a ideia de exterminar raças, como os judeus (e levá-la avante, com o apoio de milhões de pessoas)?
Recuemos até à década de 60. “A Terceira Onda” foi uma curiosa experiência levada a cabo por Ron Jones, professor de História Contemporânea, no “Cubberley High School”, na Califórnia, na qual procurava dar resposta aos seus alunos que achavam impossível que um país como a Alemanha tivesse aderido a uma aventura louca e assassina como foi o III Reich e o nazismo. Os alunos não acreditavam que fosse possível manipular as pessoas desta forma, até elas perderem a noção do que faziam. Ou então, como muitos responsáveis pelos mais bárbaros actos se desculpavam, explicando que “apenas cumpriam ordens superiores”. Como era possível uma delirante ideologia como a nazi passar por algo saudável? Como era possível conceber a ideia de exterminar raças, como os judeus (e levá-la avante, com o apoio de milhões de pessoas)? Foi assim que uma semana alterou por completo a vida de uma comunidade escolar, e ameaçava estender-se às famílias e à cidade. Até que alguns alunos começaram a questionar a experiência, a sentir o efeito da perca da liberdade, a sublinhar o perigo da demagogia, a descobrir por detrás desta mansa onda que alastrava a inquieta vaga de fundo que poderia pôr em causa a democracia e instituir uma ditadura, fosse ela de que sentido, e em nome de que valores. Nessa altura Ron Jones pensou que tinha de terminar este projecto, marcou uma reunião com todo o grupo, e explicou como o nazismo foi possível, como outros nazismos, ou outras ditaduras (de sinal idêntico ou de sinal contrário) eram imagináveis, se o cidadão não estivesse alerta para alguns sintomas da sociedade, sobretudo quando milhares de pessoas, cegas pelas palavras e o espectáculo envolvente, aceitavam um ditador, sem se questionarem, sem reflectirem. Hitler e o nazismo apareceram assim na Alemanha. Outras ditaduras tiveram idêntica gestação, muitas outras podem germinar de igual forma. Ainda por cima numa época cada vez mais fascinante em certos aspectos, mas igualmente mais massificada, pela globalização, pelas modas, pela influência generalizada dos media, pelo controle do poder cada vez mais poderoso e invisível.
Foi assim que uma semana alterou por completo a vida de uma comunidade escolar, e ameaçava estender-se às famílias e à cidade. Até que alguns alunos começaram a questionar a experiência, a sentir o efeito da perca da liberdade, a sublinhar o perigo da demagogia, a descobrir por detrás desta mansa onda que alastrava a inquieta vaga de fundo que poderia pôr em causa a democracia e instituir uma ditadura, fosse ela de que sentido, e em nome de que valores. Nessa altura Ron Jones pensou que tinha de terminar este projecto, marcou uma reunião com todo o grupo, e explicou como o nazismo foi possível, como outros nazismos, ou outras ditaduras (de sinal idêntico ou de sinal contrário) eram imagináveis, se o cidadão não estivesse alerta para alguns sintomas da sociedade, sobretudo quando milhares de pessoas, cegas pelas palavras e o espectáculo envolvente, aceitavam um ditador, sem se questionarem, sem reflectirem. Hitler e o nazismo apareceram assim na Alemanha. Outras ditaduras tiveram idêntica gestação, muitas outras podem germinar de igual forma. Ainda por cima numa época cada vez mais fascinante em certos aspectos, mas igualmente mais massificada, pela globalização, pelas modas, pela influência generalizada dos media, pelo controle do poder cada vez mais poderoso e invisível.


 Gianni, com os seus cinquenta anos bem contados, vive só com a mãe num pequeno apartamento de um bairro de pequena burguesia romana, A mãe é senhora de muita idade, dependente, que gosta sobretudo de ouvir o filho ler histórias, como “Os Três Mosqueteiros”, de Alexandre Dumas (com d´Artagnan, e não Dartacão, como a ignorante tradução portuguesa sugere!). Mas nesse feriado de 15 de Agosto, o senhorio de Gianni, a quem este deve rendas, pede-lhe para ele ficar com a sua mãe, para poder dar uma escapadela sentimental. Mas esta senhora traz a tia, e o médico de família, nesse dia de urgência, convoca igualmente a mãe dele. Um feriado e quatro velhinhas, num apartamento sem grandes condições, e as maleitas e as dietas (atraiçoadas) e as brejeirices e as rabugices da terceira idade, implicativas e vingativas até dizer basta. E ternas e deliciosamente humanas, também. E Gianni a tratar de todas, até daquela que resolve arejar à noite e ir tomar um copo e fumar um cigarro para uma esplanada, sem dizer nada a ninguém. E os almoços de peixe, com um bom vinho branco. E os remédios. E a televisão, os jogos de cartas, enfim, tudo a que têm direito. Lá fora, apenas vislumbrada pelas janelas abertas, Roma, a cidade eterna. Dentro de casa, as eternas questões da sobrevivência humana. Resolvidas, uma a uma, com paciência de santo pelo generoso Gianni.
Gianni, com os seus cinquenta anos bem contados, vive só com a mãe num pequeno apartamento de um bairro de pequena burguesia romana, A mãe é senhora de muita idade, dependente, que gosta sobretudo de ouvir o filho ler histórias, como “Os Três Mosqueteiros”, de Alexandre Dumas (com d´Artagnan, e não Dartacão, como a ignorante tradução portuguesa sugere!). Mas nesse feriado de 15 de Agosto, o senhorio de Gianni, a quem este deve rendas, pede-lhe para ele ficar com a sua mãe, para poder dar uma escapadela sentimental. Mas esta senhora traz a tia, e o médico de família, nesse dia de urgência, convoca igualmente a mãe dele. Um feriado e quatro velhinhas, num apartamento sem grandes condições, e as maleitas e as dietas (atraiçoadas) e as brejeirices e as rabugices da terceira idade, implicativas e vingativas até dizer basta. E ternas e deliciosamente humanas, também. E Gianni a tratar de todas, até daquela que resolve arejar à noite e ir tomar um copo e fumar um cigarro para uma esplanada, sem dizer nada a ninguém. E os almoços de peixe, com um bom vinho branco. E os remédios. E a televisão, os jogos de cartas, enfim, tudo a que têm direito. Lá fora, apenas vislumbrada pelas janelas abertas, Roma, a cidade eterna. Dentro de casa, as eternas questões da sobrevivência humana. Resolvidas, uma a uma, com paciência de santo pelo generoso Gianni.


 Angelo Beolco, dito o Ruzante, (que nasceu e viveu em Pádua, entre 1496 e 1542) foi um actor e dramaturgo italiano, que estudou Medicina e cuja obra literária, sob o pseudónimo de Ruzante (que foi buscar ao nome de uma personagem que aparece em várias das suas comédias, e que o próprio interpretava), vai da poesia ao teatro. Ruzante é considerado um dos mais importantes inovadores do teatro italiano, tendo-se servido da sua experiência como actor e encenador. Estudioso infatigável, nunca deixou de polemizar com alguns dos seus mais ilustres contemporâneos. Dario Fo, no discurso que proferiu aquando da atribuição do Prémio Nobel da Literatura, referiu-se a Ruzante como “o maior dramaturgo do Renascimento europeu, antes do aparecimento de Shakespeare”.
Angelo Beolco, dito o Ruzante, (que nasceu e viveu em Pádua, entre 1496 e 1542) foi um actor e dramaturgo italiano, que estudou Medicina e cuja obra literária, sob o pseudónimo de Ruzante (que foi buscar ao nome de uma personagem que aparece em várias das suas comédias, e que o próprio interpretava), vai da poesia ao teatro. Ruzante é considerado um dos mais importantes inovadores do teatro italiano, tendo-se servido da sua experiência como actor e encenador. Estudioso infatigável, nunca deixou de polemizar com alguns dos seus mais ilustres contemporâneos. Dario Fo, no discurso que proferiu aquando da atribuição do Prémio Nobel da Literatura, referiu-se a Ruzante como “o maior dramaturgo do Renascimento europeu, antes do aparecimento de Shakespeare”.