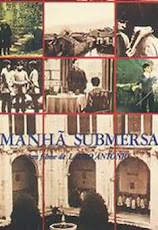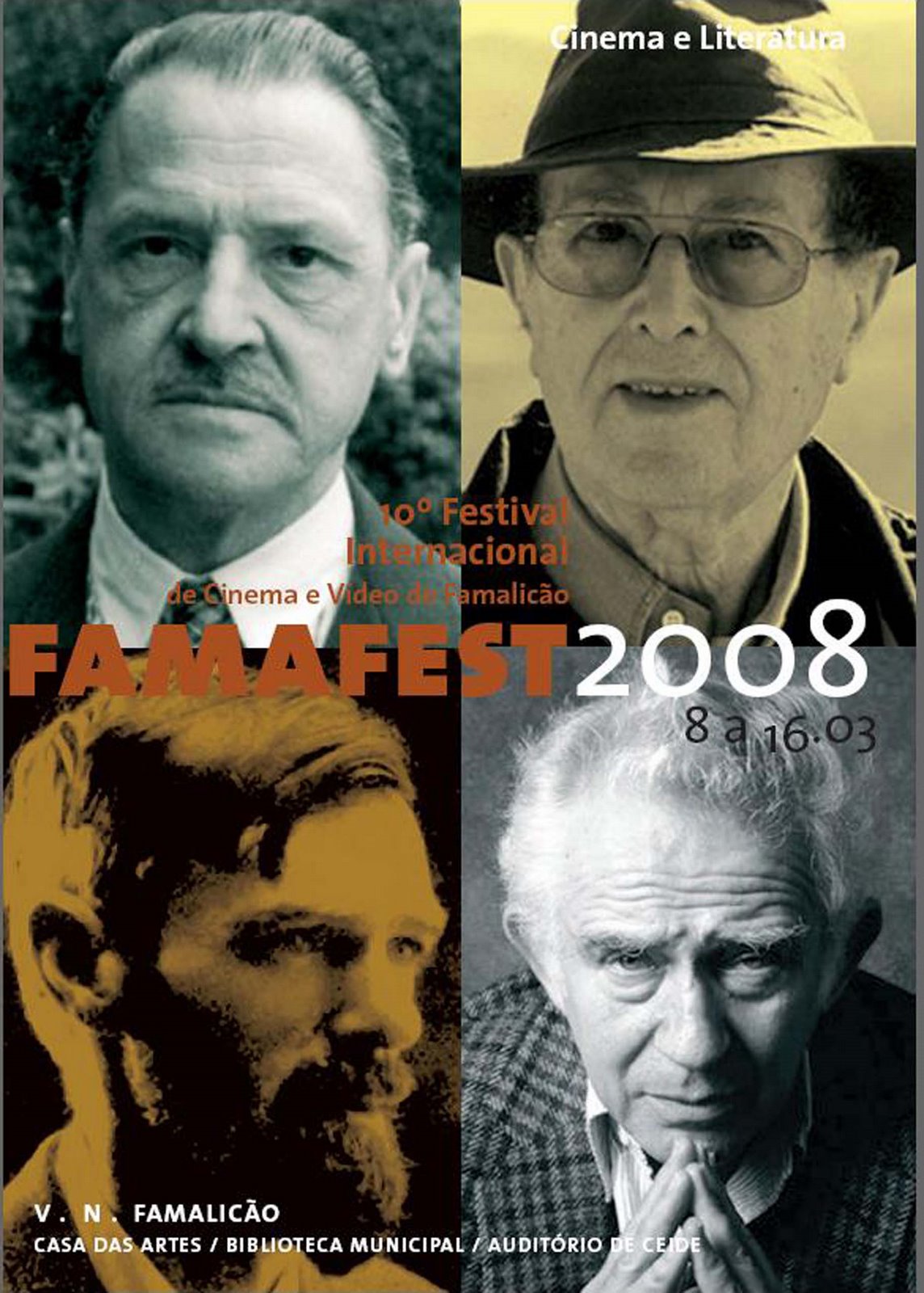sábado, novembro 07, 2020
ADEUS, SR. PRESIDENTE!
quarta-feira, novembro 04, 2020
CINEMA: REBECCA (1940)
REBECCA (1940)
No verão de 1939, David O. Selznick foi
buscar Alfred Hitchcock a Inglaterra e ofereceu-lhe trabalho em Hollywood.
Hitchcock era
na altura o mais famoso realizador inglês, já com alguns grandes sucessos de
público e de crítica, e compreende-se que um produtor como Selznick tenha
apostado tudo neste britânico, já um pouco gordo e sempre bonacheirão, que
criava uma fama de grande cineasta e de um apuradíssimo criador de atmosferas
de suspense.
Para iniciar essa colaboração, o produtor
ofereceu ao realizador a oportunidade de adaptar ao cinema, depois da tentativa
de Titanic, o romance de uma escritora então muito popular, Daphne Du Maurier,
“Rebecca”. Curiosamente a oferta caiu como ouro sobre azul, pois Hitchcock já
pensava, ainda em Inglaterra, adaptar este romance que tinha todos os
condimentos para se integrar harmoniosamente nos temas e nas preocupações do
cineasta.
Rebecca irá assombrar todos os minutos que
dura o filme, mas é uma presença invisível que se torna mais presente do que
muitas reais. Por todo o lado se insinua a forte presença desta mulher que é
descrita como muito bela, elegante, poderosa, absorvente. Tudo está marcado por
Rebecca, desde a roupa ao quarto fechado, da sua sedução e fascínio aos mais
intrigantes segredos que lentamente se irão descobrindo à medida que o filme
decorre. Se Rebecca é um nome constante, da segunda senhora Winter nunca iremos
saber sequer o nome próprio, emparedada entre Rebecca e Manderley. Se Rebecca é
uma presença obsidiante, Manderey impõe-se igualmente de forma obsessiva.
A juntar a estas individualidades de
personalidade dominadora (sim Manderley é uma das personagens do filme), há
ainda uma ama, Mrs. Danvers (a inesquecível Judith Anderson), que tudo fará
para igualmente se tornar uma presença, no mínimo obsessiva, a rondar o patológico.
Ela vive sob o domínio de Rebecca, a sua senhora, seguramente o seu amor,
concretizado ou não, disposta a perseverar a imagem da sua referência maior,
particularmente insatisfeita com a vinda de uma nova mulher a ocupar o lugar
daquela que para ela é insubstituível. Discretamente, de forma insidiosa, fará
a vida negra à segunda Mrs. Winter.
“Rebecca” é assim esta história de um
triangulo emocional entre Maxim e as suas duas mulheres, com uma curiosidade
extra, que a censura dos EUA introduziu no argumento: no romance de Daphne Du
Maurier tinha sido Maxim De Winter a assassinar a primeira mulher. No filme,
por imposição do Código Heys, que não permitia que um criminoso ficasse impune
no final de um filme, Hitchcock introduziu algumas alterações à história, que,
longe de tornarem a intriga mais “moral”, desafiam o espectador para outras
áreas de interpretação.
Vindo de Inglaterra, com uma história inglesa
debaixo do braço, Alfred Hitchcock, de colaboração com Selznick que lhe deu
(quase) inteira liberdade de escolha, optou por um elenco principal onde só
Joan Fontaine era naturalizada norte-americana (apesar de ter nascido em
Tóquio, de pai inglês). Laurence Olivier, George Sanders, Judith Anderson,
entre outros, eram ingleses.
Rodado na Califórnia, entre 8 de Setembro e 20 de Novembro de 1939, “Rebecca”, teve interiores captados nos Selznick International Studios, em Culver City, e exteriores em Big Sur, Point Lobos State Natural Reserve e Palos Verdes. Não sendo dos filmes de que o autor mais gosta, “Rebecca” terá sido um dos seus maiores sucessos, não só na altura da sua estreia (ganhou o Oscar de Melhor Filme, mas não o de Melhor Realizador, o que Hitch nunca alcançou, a não ser um Oscar honorário pela contribuição do seu trabalho total), como até hoje, sendo dos filmes que maior receita acumularam, entre todos os dirigidos a preto e branco pelo mestre do suspense.
Título original: Rebecca
Realização: Alfred Hitchcock (EUA, 1940); Argumento: Robert E. Sherwood, Joan Harrison, Philip MacDonald, Michael Hogan, segundo romance de Daphne Du Maurier; Produção: David O. Selznick; Música: Franz Waxman; Fotografia (p/b): George Barnes; Montagem: W. Donn Hayes; Direcção artística: Lyle R. Wheeler, William Cameron Menzies; Maquilhagem: Monte Westmore; Assistentes de realização: Edmond F. Bernoudy, D. Ross Lederman, Eric Stacey; Departamento de arte: Howard Bristol, Joseph B. Platt, Dorothea Holt; Som: Jack Noyes, Arthur Johns; Efeitos especiais: Jack Cosgrove; Efeitos visuais: Albert Simpson; Companhia de produção: Selznick International Pictures; Intérpretes: Laurence Olivier ('Maxim' de Winter), Joan Fontaine (Mrs. de Winter), George Sanders (Jack Favell), Judith Anderson (Mrs. Danvers), Nigel Bruce (Major Giles Lacy), Reginald Denny (Frank Crawley), C. Aubrey Smith (Coronel Julyan), Gladys Cooper (Beatrice Lacy) Florence Bates (Mrs. Van Hopper), Melville Cooper (Coroner), Leo G. Carroll (Dr. Baker), Leonard Carey, Lumsden Hare, Edward Fielding, hilip Winter, Forrester Harvey, Alfred Hitchcock (homem do lado de fora de uma cabine telefónica), etc. Duração: 130 minutos; Distribuição em Portugal: inexistente; Distribuição internacional: ABC (Espanha); Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia em Portugal: 7 de Janeiro de 1941; Cópia original em inglês, com legendas em espanhol.
terça-feira, novembro 03, 2020
CINEMA: REBECCA (2020)
REBECCA (2020)
Uma nova versão de “Rebecca”,
adaptando o célebre romance de Daphne Du Maurier que marcou a entrada fulgurante
de Alfred Hitchcock na produção cinematográfica dos EUA em 1940. Mais uma vez
um remake não se mostra à altura do original. Lembro-me de “Lolita” de Vladimir
Nabokov, que Stanley Kubrick dirigiu em 1962, com James Mason, Shelley Winters
e Sue Lyon. Uma obra-prima que, em 1997, Adrian Lyne retomou,
a cores, com um bom elenco, Jeremy Irons, Dominique Swain e Melanie Griffith,
ficando muito abaixo do filme de Kubrick. Qual a razão? O talento do realizador
e a intensidade dramática do preto e branco que trazia uma austeridade fortíssima
a esse drama, o que, no caso da obra mais recente, era completamente anulado pelo
bonitinho cheio de rodriguinhos do colorido do filme de Adrian Lyne. A tendência
para tornar “esteticamente” mais “moderno”, mais actual o conflito, acaba por
ser uma opção redutora.
O mesmo acontece com “Rebecca”,
com resultados muito semelhantes. A actual versão é muito adocicada, igualmente
muito “bonitinha”, com escolha de cenários sumptuosos, mas com efeitos
totalmente opostos ao filme de Hitch. Mas há muito mais. Os protagonistas desta
versão de 2020, Lily James, Armie Hammer e Kristin Scott Thomas, estão todos a
milhas de Laurence Olivier, Joan Fontaine ou Judith Anderson. Apenas Kristin
Scott Thomas, no papel de governanta, se aproxima do trabalho de Judith
Anderson, mesmo assim não o igualando. Uma desilusão que tem o condão de que confirmar como era notável o filme de Alfred Hitchcock. Pode ver esta versão, mas não deixe de
ver ou rever o verdadeiro “Rebecca”, uma lição de cinema.
REBECCA
Título original: Rebecca
Realização: Ben Wheatley (2020); Argumento: Jane Goldman, Joe Shrapnel, Anna Waterhouse, segundo romance de Daphne Du Maurier; Produção: Raphaël Benoliel, Tim Bevan, Eric Fellner, Amelia Granger, Caroline Levy, Nira Park, Sarah-Jane Robinson; Música: Clint Mansell; Fotografia (cor): Laurie Rose; Montagem: Jonathan Amos; Casting: Nina Gold, Mathilde Snodgrass; Design de produção: Sarah Greenwood; Direcção artística: Will Coubrough, Nick Gottschalk, Louise Lannen, Will Newton; Decoração: Katie Spencer; Guarda-roupa: Julian Day; Maquilhagem: Ivana Primorac, Laura Allen, Elodie Aubert, Olivia Barningham, Sam Bear, Véronique Boslé, Jean-Philippe Colombie, Crystelle Di Rosa, Beatriz Duarte, Stefania Favata, Grace Firmin, Louise Fisher, Florina Foret, Karine Foret, Robert Frampton, Jean-Pierre Gallina, Karl Gianfreda, Fabienne Giombini, Mélodie Grand, Chantal Guadalpi, Senghore Haddy, Charlotte Hayward, Jennyfer Hillyards, Catherine Ichou, Irène Jordi, Laureen Kaczmarek, Sophie Kilian, Barbara Krief, Justine Lancelle, Sandra Lovi, James MacInerney, Patricia Ounroth-Rochwerg, Marilyn Rieul, Charlotte Rogers, Corinne Texier, Gillian Thomas, Naomi Tolan, Catherine Topin, Christine Whitney, Hollie Williams, Lisa Wood; Direcção de Produção: Joanne Dixon, Arnaud Duterque, Rachael Havercroft, Polly Hope, Hannah Ireland, Pat Karam, Elizabeth Small; Assistentes de realização: Tussy Facchin, Andrea Hachuel, Ben Howard, Elodie Krauss, Georgia Lewis, Danni Lizaitis, Stefan Maile, Vincenz Meresse, Charlie Vaughan, Phoebe Young; Departamento de arte: Naomi Bailey, Ursa Banton-Miller, Tamara Catlin-Birch, Simon Hutchings, Emma MacDevitt, Alicia Grace Martin, Michel Rollant; Som: Danny Freemantle, Glenn Freemantle, Nick Freemantle, Niv Adiri, Gillian Dodders, Russell Edwards, Rob Entwistle, Dayo James, Robert Malone, Anthony S. Ciccarelli, etc. Efeitos especiais: Karl Openshaw, Jody Taylor, Richard Van Den Bergh, Massimo Vico, Flora Warrington, Murray Barber, Mauricio Cuencas, Atem Kuol, etc. Companhias de produção: Netflix, Working Title Films; Intérpretes: Lily James (Mrs. de Winter), Armie Hammer (Maxim de Winter), Ann Dowd (Mrs. Van Hopper), Kristin Scott Thomas (Mrs. Danvers), Jacques Bouanich, Marie Collins, Jean Dell, Sophie Payan, Pippa Winslow, Lucy Russell, Bruno Paviot, Stefo Linard, Tom Hudson, Jeff Rawle, Ashleigh Reynolds, Bryony Miller, Tom Goodman-Hill, Ben Crompton, John Hollingworth, Keeley Hawes, Jane Lapotaire, Sam Riley, Poppy Allen-Quarmby, David Cann, Julia Deakin, Jason Williamson, Colin Bennett, Jessie Irvin Rose, Chris Bearne, John Macneill, etc. Duração: 121 minutos; Distribuição em Portugal: Netflix; Classificação etária: M/ 13 anos; Data de estreia em Portugal: 21 de Outubro de 2020.
segunda-feira, novembro 02, 2020
CINEMA: OS 7 DE CHICAGO
OS 7 DE CHICAGO
A América tem destas coisas: podemos estar
muito zangados com uma metade, mas há sempre a outra metade a compensar e
surpreender-nos. “Os 7 de Chicago”, de Aaron Sorkin, aí está para nos
reconciliar com o lado menos podre da maçã, para nos fazer ver que a América é
um país de contradições, onde é sempre possível recuperar a dignidade e que é
quase sempre pela arte que lá vamos. Quer seja na literatura, na música, no
teatro, nas artes plásticas, … no cinema.
Aaron Sorkin é um dos meninos bonitos de
Hollywood, quer como argumentista, como dramaturgo, como realizador igualmente.
Nascido num subúrbio de Nova Iorque (1961), formado na universidade de Syracuse,
em teatro, começa a carreira como actor, mas rapidamente percebe que a sua
vocação é a escrita. Assina algumas peças de sucesso, como "Hidden in This
Picture", mas é sobretudo com “Uma Questão de Honra” (1992), que atinge uma
certa consagração nos palcos. Passa depois ao cinema, notabilizando-se como o
argumentista de série de televisão de antologia, como “Os Homens do Presidente”
(1999), “Sports Night” (1998) ou “Newsroom” (2012-2014). No cinema colabora na versão
final de “A Lista de Schindler” (1993) e assina os argumentos de “Uma Noite com
o Presidente” (1995), “Má Fé” (1993), “Inimigo de Estado” (1998), “O Rochedo”
(1996), “Bagagem Explosiva” (1997), “Jogos de Poder” (2007), “A Rede Social”
(2010), Moneyball, Jogada de Risco” (2011), “Steve Jobs” (2015), “Jogos da Alta
Roda” (2017) e, finalmente, “Os 7 de Chicago”. Os dois últimos são realizados
por si.
O filme explica e julgo que com grande
precisão de factos, ainda que obviamente com um lado ficcionista que sempre se
impõe, como as coisas aconteceram. Estamos em pleno período eleitoral na Convenção
Democrata. O país vive angustiado com a Guerra do Vietname e com as medidas
anunciadas pelo presidente Lyndon B. Johnson, recrutando mais e mais militares
para o conflito. A juventude está revoltada e organiza várias marchas de
protesto que irão confluir nas ruas e parques de Chicago. A convenção decorre
no International Amphitheatre e a multidão dirige-se para lá. A polícia
corta-lhe o acesso, em frente ao Conrad Hilton Hotel, onde os candidatos democratas
à presidência e suas campanhas estavam sediados, e surgem os confrontos ali e em
vários locais da cidade. Há cargas violentas, feridos, presos. Conta-se que no comício
do Grant Park, na quarta-feira, 28 de Agosto de 1968, se reuniram mais de 15
mil manifestantes. Foram 5 dias e 5 noites de tumultos. Acusações de parte a
parte. Polícia e manifestantes tanto são ora vítimas, como carrascos. As
autoridades, na impossibilidade de prenderem todos, “elegeram” os “Chicago
Seven” (originalmente Chicago Eight, ou Conspiracy Eight) que se iriam sentar
nas cadeiras de réus: Abbie Hoffman, Jerry Rubin, David Dellinger, Tom Hayden,
Rennie Davis, John Froines e Lee Weiner, todos acusados de conspiração,
incitação à revolta e outras incriminações relacionadas a protestos
contraculturais e contra a Guerra do Vietname. O oitavo era Bobby Seale, dirigente
dos Black Panters, que, acusado de desacatos durante o julgamento, seria
obrigado a abandonar a sala de julgamento e viria a ser condenado a quatro anos
de prisão.
Acontece que este caso ocorreu durante
eleições nos EUA. Estava no poder Lyndon B. Johnson que viria a ser substituído
pelo republicano Nixon, com as respectivas trocas noutros cargos. O de procurador-geral
do presidente, inicialmente um democrata, Ramsey Clark, depois um republicano, John
Mitchell, com tudo o que a rivalidade política e os pontos de vista divergentes
impõem. O democrata teria uma opinião mais cordata, mais favorável aos
manifestantes, os republicanos foram muito mais violentos nas acusações, desculparam
as cargas policiais, o julgamento prolongou-se por meses, concluiu por condenações,
a que se seguiram apelações e reversões, alguns dos sete acusados foram
finalmente condenados, embora todas as condenações tenham sido, anos depois, revertidas.
Com base nestes dados, Aaron Sorkin escreveu
um argumento que é sobretudo um filme de tribunal, que se acompanha com
interesse redobrado, dada a tensão mantida e o desempenho de um vasto grupo de
actores, todos eles excelentes. As peripécias do julgamento, a irreverência dos
réus, a inteligência e a ironia do diálogo, a boa arquitetura narrativa, tudo
isso se conjuga para a criação de uma obra notável, de coragem política
(sobretudo em tempos de Trump na presidência) mas igualmente de dramatismo
social. Erguer uma tal obra não terá sido muito fácil nos tempos actuais, por
isso se compreende que surjam no genérico entre produtores e produtores
associados e executivos, 44 nomes e 11 casas produtoras. Um esforço financeiro
avultado certamente, mas sobretudo uma forma de multiplicar por muitos a responsabilidade
de apresentar ao público uma tal obra. Note-se que alguns actores se encontram
entre os produtores, caso por exemplo de Sacha Baron Cohen, o que transforma
esta película numa espécie de manifesto que tem objectivamente muito de actual.
Não por acaso surge nas vésperas da mais importante eleição que se realiza nos
EUA desde há muito.
A reconstituição de época é notável e todo o
enquadramento técnico, da fotografia à banda sonora, passando pela montagem
merecem os mais rasgados elogios. Um filme do ano, seguramente.
OS 7 DE CHICAGO
Título original: Título original: The
Trial of the Chicago 7
Realização: Aaron Sorkin (EUA,
2020); Argumento:Aaron Sorkin; Produção: Max Adler, Cary Anderson, Sacha Baron
Cohen, Gail Benefiel, Stuart M. Besser, Marc Butan, Dru Davis, Misook Doolittle,
Maurice Fadida, Stephanie Garvin, Mickey Gooch Jr., J. Todd Harris, Matt
Jackson, Anthony Katagas, Nancy Kirhoffer, Monica Levinson, Lauren Lohman, Laurie
MacDonald, Kristie Macosko Krieger, Steve Matzkin, Jan McAdoo, Evan Metropoulos,
Charles Miller, Jonathan Moore, Walter F. Parkes, Buddy Patrick, Marc Platt, Shivani
Rawat, Joseph P. Reidy, Kristina Rivera, Andrew C. Robinson, James Rodenhouse, Cody
Saintgnue, Emily Hunter Salveson, Sarah Schroeder-Matzkin, Thorsten Schumacher,
Nicole Alexandra Shipley, Ryan Donnell Smith, Debra Taweel, Tyler Thompson, Jared
Underwood, Nia Vazirani, Slava Vladimirov; etc. Música: Daniel Pemberton;
Fotografia (cor): Phedon Papamichael; Montagem: Alan Baumgarten; Casting:
Francine Maisler, Mickie Paskal, Jennifer Rudnicke; Design de produção: Shane
Valentino; Direcção artística: Nick Francone, Julia Heymans, Ernesto Solo; Decoração:
Andrew Baseman; Guarda-roupa: Susan Lyall; Maquilhagem: Tiffany Anderson, Budd
Bird, Karen Brody, Eadra Brown, Nathan J. Busch II, Stephanie Cannone, Christen
Edwards, David Grant, Vivian Guzman, Stacey Herbert, Troy Holbrook, Jon Jordan,
Stephen Kelley, Rochelle Kneisley-Fisher, Karen Koenig, Jamie Leodones, Justine
Losoya, Tarsha Marshall, Joanna McCarthy, Louise McCarthy, Amy Sue Nahhas,
Zsofia Otvos, Sunni-Ali Powell, Lillian Sakamaki, Ray Santoleri, KeLeen J.
Snowgren, Sarah Squire, 0Kacy Tatus, Pamela Turnmire, Gina Ussel, Catherine
Woods, Jackie Zarn, Anna Zenner, Nakoya Yancey; Direcção de Produção: David
Duque-Estrada, Charles Leslie, Charles Miller, Jonathan Shoemaker; Assistentes
de realização: Kyle Casper, Pablo Gambetta, T.J. Hallett, Rachel Jaros, Joseph
P. Reidy; Departamento de arte: Zach Doherty, Jennie Eps, Maxwell Fasen,
Michael Fleming, Jacqueline Frole, Steve Garcia, Ben Gojer, Chesney Gregorie,
Dylan E. Griffin, Samuel L. Kopels, Irene Krygowski, Leanne Macomber, Melissa
Manke, Lauren Nigri, Ari David Schwartz, David Soukup, Scott Taft, Charles E
Tiedje, Timothy W. Tiedje, Molly Welsh, etc. Som: Dan Kenyon, James B.
Appleton, Davi Aquino, Tim Edson, Casey Genton, Michael Hertlein, Jonathan
Klein, Jon Michaels, Adam Mohundro, Kevin Schultz, Ken Strain, Renee Tondelli,
Thomas Varga, etc. Efeitos especiais: Allison Cayo, Drew Jiritano, James
Klotsas, Carlton Nienhouse, Calvin Small; Efeitos visuais: Glenn Allen, Jasmine
Carruthers, Unggyu Choi, Nick Constandy, Eran Dinur, Richard Friedlander,
Daniel Gardiner, Mia Mallory Green, Austin Meyers, Yunsik Noh, Michelle
Polacinski, Mani Trump, Michael Wharton, Ben Zylberman; Companhias de produção:
Dreamworks Pictures, Amblin Partners, CAA Media Finance, Cross Creek Pictures,
Double Infinity Productions, MadRiver Pictures, Marc Platt Productions,
Paramount Pictures, Reliance Entertainment, Rocket Science, ShivHans Pictures; Intérpretes:
Eddie Redmayne (Tom Hayden), Alex Sharp (Rennie Davis), Sacha Baron Cohen (Abbie
Hoffman), Jeremy Strong (Jerry Rubin), John Carroll Lynch (David Dellinger), Yahya
Abdul-Mateen II (Bobby Seale), Mark Rylance (William Kunstler), Joseph
Gordon-Levitt (Richard Schultz), Ben Shenkman (Leonard Weinglass), J.C.
MacKenzie (Thomas Foran), Frank Langella (Juiz Julius Hoffman), Danny Flaherty
(John Froines), Noah Robbins (Lee Weiner), John Doman (John Mitchell), Michael
Keaton (Ramsey Clark), Kelvin Harrison Jr. (Fred Hampton), Caitlin FitzGerald, Brady
Jenness, Meghan Rafferty, Juliette Angelo, Brendan Burke, Tah von Allmen, Alan
Metoskie, John Gawlik, Kevin O'Donnell, Gavin Haag, Alice Kremelberg, Tiffany
Denise Hobbs, Steve Routman, Madison Nichols, John F. Carpenter, Larry Mitchell,
Wayne Duvall, Mike Geraghty, Michael Brunlieb, etc. Duração: 129 minutos;
Distribuição em Portugal: Netflix; Classificação etária: M/ 12 anos; Data de
estreia em Portugal (Netflix): 16 de Outubro de 2020.
segunda-feira, outubro 12, 2020
LISTEN, de ANA ROCHA
LISTEN ou OUVE-ME
“Ouve-me”
ou “Listen”, conforme o filme se veja em Portugal ou em Inglaterra, é a obra de
estreia de Ana Rocha que se estreou no Festival de Veneza, onde se portou
verdadeiramente bem, arrebatando vários prémios, os oficiais Leão do Futuro e o
Prémio Especial do Júri, na secção "Horizontes", e ainda os galardões
paralelos Bisato d’Oro, Sorriso Diverso Veneza, Casa Wabi e HFPA.
Ana
Rita Rocha de Sousa, de seu nome completo, nasceu em Lisboa, a 28 de Outubro de
1978. Estreia-se como actriz, muito nova, numa pequena participação no filme de
João Botelho, “No Dia dos Meus Anos” (1991). Em televisão (RTP, TVI e SIC)
apareceu em diversos trabalhos, como “Riscos”, “Jornalistas”, “Médico de
Família”, “Alves dos Reis”, “A Raia dos Medos”, “A Senhora das Águas”, “Um
Estranho em Casa”, “Sonhos Traídos”, “Morangos com Açúcar”, “Maiores de 20”,
“Inspector Max”, “Mistura Fina” ou “Jura”. No teatro, entre outros
espectáculos, integrou o elenco de “Sonho de uma Noite de Verão”, no Teatro
Nacional D. Maria II, numa encenação de João Ricardo.
Entretanto, em simultâneo, Ana Rocha licenciou-se em Pintura na Faculdade de Belas-Artes da Universidade de Lisboa. A faceta de actriz nunca deixou de lhe interessar, mas aspirava a algo diferente. Emigrou para Inglaterra, para estudar cinema, na reputada London Film School, onde completou um mestrado em realização com orientação de Mike Leigh. Foi experimentando o olhar da câmara nalgumas curtas-metragens e documentários, entre os quais “Aqui e agora”, sobre Adriano Correia de Oliveira, “Quem nos Larga…”, “Laundriness”, “Minha Alma and You” ou “No Mar”. Foi ainda dedicando o seu tempo a concertos e vídeoclips de alguns cantores, como Sérgio Godinho, Maria João, Raquel Tavares, Xaile ou Aldina Duarte. Para quem nasceu em 1978, não se pode dizer que tenha andado a ver passar o tempo. A sua passagem por Londres foi decisiva na consolidação de uma carreira. Curiosamente, Portugal não tem sido muito dado a escolher a London Film School como escola de formação. Mas, quando o faz, veja-se o caso de Fernando Lopes, dá-se bem. Existe uma tradição de cinema social inglês, que vem desde os anos 30, com a escola documentarista¸ onde avultaram nomes como John Grierson, Basil Wright, Humphrey Jennings, Alberto Cavalcanti, Arthur Elton, Edgar Anstey, Stuart Legg, Paul Rotha e Harry Watt, entre outros. Outro momento alto do cinema realista social em Inglaterra acontece nos anos 60 do século passado, com o Free Cinema (muito ligado aos “Angry Young Men”), que revela autores como Lindsay Anderson, Karel Reisz, Tony Richardson ou Lorenza Mazzetti. Muito mais tarde, surge uma nova geração de cineastas que se interessa pelo retrato social de Inglaterra, com realizadores como Mike Leigh, Ken Loach, Shane Meadows, entre vários outros. Sintomaticamente para alguma crítica portuguesa, este tipo de cinema nunca mereceu os mesmos elogios que a Nouvelle Vague, por exemplo, sempre granjeou (justificadamente estes elogios, como seriam igualmente os dedicados ao cinema inglês).
Todo este
preâmbulo para situar “Listen”, que se coloca abertamente na linha desta
tradição de um certo realismo social britânico, o que fica ainda mais visível
ao se saber que Mike Leigh foi um (bom) professor de Ana Rocha, que aproveitou
bem as aulas, mantendo algo de profundamente essencial em matéria de
professores e alunos: a independência e autonomia dos alunos perante os
professores. A voz de Ana Rocha manteve-se intocável.
“Ouve-me” fala de uma família portuguesa a viver actualmente em Londres. Um casal e três filhos, a mãe a trabalhar a dias, o pai, agora desempregado, mas anteriormente empregado numa marcenaria, que lhe ficou a dever dinheiro. Os filhos vão desde um bebé de cerca de um ano, uma miúda de seis/sete anos, surda, e um jovem de doze anos. Como a miúda aparece com umas nódoas nas costas que sugerem ter sido agredida, a segurança social toma conta do assunto, retira as crianças aos pais, que não aceitam a separação e fazem tudo para reaver os filhos e regressarem com eles a Portugal. Esta base dramática permite uma descrição de ambientes sociais muito bem dada, mas permitiria igualmente um choradinho sem fim, o que Ana Rocha consegue evitar com mestria e muita segurança estilística. As imagens ganham sempre um distanciamento óbvio, um empenhamento humano discreto, uma compreensão das razões das diversas partes (nunca se infernizam as instituições inglesas que fazem o que têm a fazer o melhor possível). A realizadora afasta a emoção fácil, quer através de uma óptima direcção de actores, quer ainda pela introdução de imagens aparentemente desligadas da acção, pormenores de um cenário, de uma paisagem, etc. A própria fotografia, algo granulada, por vezes difusa, ajuda a este efeito. Depois o rigor na descrição dos cenários, o interior da casa do casal português, as salas das instituições, os exteriores, tudo é meticulosamente recuperado.
Existe ainda um interessante problema de comunicação (ou de incomunicabilidade), dado que se trata de uma família portuguesa a residir em Londres. Os portugueses falam quase sempre entre si em português, mas têm de se relacionar com os ingleses. Para que este diálogo se estabeleça, não existem grandes dificuldades. Mas a filha do casal é surda, o aparelho auditivo está estragado, não há dinheiro para o reparar, ou substituir, o que levanta dificuldades de comunicação com os pais, com a escola, com os serviços sociais. É este o maior óbice para que os problemas se ultrapassem. Não por indiferença ou desinteresse dos agentes no terreno, mas possivelmente pela legislação desadequada.
Falemos, finalmente, da interpretação que é de qualidade invulgar: Lúcia Moniz é simplesmente brilhante, na forma como impõe a sua personagem. Ruben Garcia, no marido, vai muito bem, e as crianças são profundamente convincentes. Quantos aos ingleses, todos eles são impecáveis nas suas intervenções, mais ou menos curtas.
Uma belíssima estreia na longa-metragem de ficção que se saúda com entusiasmo. O cinema português precisa de sangue novo e de olhares diferentes. Com talento.
OUVE-ME
Título original: Listen
Realização: Ana Rocha De Sousa
(Portugal, Inglaterra, 2020); Argumento: Paula Alvarez Vaccaro, Ana Rocha;
Produção: Paula Alvarez Vaccaro, Rodrigo Areias, Aaron Brookner, Agustina
Figueras, Lennard Ortmann; Música: Frederic Schindler; Fotografia (cor): Hatti
Beanland; Montagem: Tomás Baltazar; Casting: Heather Basten; Design de
produção: Belle Mundi; Decoração: Rose Konstam; Guarda-roupa: Belle Mundi,
Filipa Fabrica; Maquilhagem: Amanda Goodfellow, Sara Menitra; Direcção de
Produção: Palma Derzsi; Assistentes de realização: Gabriel Lippe, Laura Prast,
Lina Remeikaite; Departamento de arte: Rebecca Clayden, Noah Demeuldre, George
Graham, Stella Hadjidemetriou, Mihaela Marino, James Reading; Som: Nuno Bento,
João Galvão, Pedro Góis, Pedro Marinho, Sérgio Silva, Roland Vajs; Efeitos
visuais: Carlos Amaral; Companhias de produção: Bando à Parte, Pinball London; Intérpretes:
Lúcia Moniz (Bela), Sophia Myles (Ann Payne), Ruben Garcia (Jota), Maisie Sly
(Lu), James Felner, Kiran Sonia Sawar (Anjali), Sian Abrahams, Brian Bovell,
António Capelo, Susanna Cappellaro, Kem Hassan, Geoffrey Kirkness, Jay Lycurgo,
Ângela Pinto, Tara Quinn, Kiki Weeks, Lola Weeks, etc. Duração: 73
minutos; Distribuição em Portugal: Lusomundo; Classificação etária: M/ 12 anos;
Data de estreia em Portugal: 22 de Outubro de
2020.
sábado, outubro 10, 2020
RATCHED
RATCHED
Ratched é a enfermeira de “Voando Sobre um Ninho de Cucos”, filme de Milos Forman, estreado em 1975. Nessa altura a enfermeira Ratched era interpretada por Louise Fletcher que haveria de ganhar o Oscar de Melhor Actriz Secundária pelo seu extraordinário trabalho. O filme alcançaria ainda mais quatro estatuetas, Melhor Filme (Saul Zaentz e Michael Douglas), Melhor Realizador (Milos Forman), Melhor Actor (Jack Nicholson) e Melhor Argumento Adaptado (Lawrence Hauben e Bo Goldman). Além de outras nomeações para Melhor Actor Secundário (Brad Dourif), Melhor Fotografia (Haskell Wexler e Bill Butler), Melhor Montagem (Richard Chew, Lynzee Klingman e Sheldon Kahn) e Melhor Partitura Musical (Jack Nitzsche). Obra grande que deixou marcas e não esquece.
Ryan Murphy (o criador de “American Horror Story”, entre outros trabalhos) e Evan Romansky resolveram pegar nesta personagem e inventarem-lhe um período anterior à sua chegada ao hospício que a tornaria célebre. “Ratched”, a série de que se conhecem já os primeiros oito episódios da primeira temporada, vai descobrir esta ambiciosa e traumatizada criatura anos antes de se cruzar com R.P. McMurphy e seus companheiros de asilo psiquiátrico, em “One Flew Over the Cuckoo's Nest”. A série é magnificamente realizada, fotografada, interpretada, com uma direcção artística absolutamente notável. Digamos que “Ratched” inventa o paraíso na terra (em cenários exteriores e em interiores de um bom gosto impressionante e um guarda roupa belíssimo) e depois povoa-o com um conjunto invulgar de monstros para todos os gostos e feitios. Violência e tortura (física e psicológica) chegam a ser insuportáveis. Uma grande série para quem conseguir aguentar (o que não é fácil). Uma série que nos retira qualquer tipo de esperança na natureza humana. Será este um bom ponto de partida? Mas a qualidade do trabalho é absolutamente inquestionável.
RATCHED – Série de TV - Netflix
Criadores: Ryan Murphy, Evan Romansky (EUA, 2020, 8 episódios; 2021, 10 episódios, a estrear); Realização: Ryan Murphy, Michael Uppendahl, Nelson Cragg, Jennifer Lynch, Daniel Minahan, Jessica Yu; Argumento: Ken Kesey, Ryan Murphy, Evan Romansky, Ian Brennan, Jennifer Salt; Produção: Ian Brennan, Michael Douglas, Jacob Epstein, Aleen Keshishian, Alexis Martin Woodall, Tim Minear, Ryan Murphy, Margaret Riley, Evan Romansky, Jennifer Salt, Paul Zaentz, Eryn Krueger Mekash, Robert Mitas, Sarah Paulson, Tanase Popa, Lou Eyrich, Eric Kovtun, Todd Nenninger, Sara Stelwagen; Intérpretes: Sarah Paulson (enfermeira Mildred Ratched), Finn Wittrock (Edmund Tolleson), Cynthia Nixon (Gwendolyn), Judy Davis (enfermeira Betsy Bucket), Jon Jon Briones (Dr. Richard Hanover), Charlie Carver (Huck Finnigan), Sharon Stone (Lenore Osgood), Amanda Plummer (Louise), Alice Englert (enfermeira Dolly), Vincent D'Onofrio (Governador George Wilburn), Jermaine Williams (Harold), Brandon Flynn (Henry Osgood), Alfred Rubin Thompson (Albert Alton), Sophie Okonedo (Charlotte Wells), Corey Stoll (Charles Wainwright), Annie Starke (Lily Cartwright), Rosanna Arquette (Anna), etc. Duração de cada episódio: entre 45 e 50 minutos; Em exibição na Netflix.