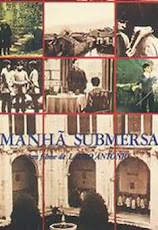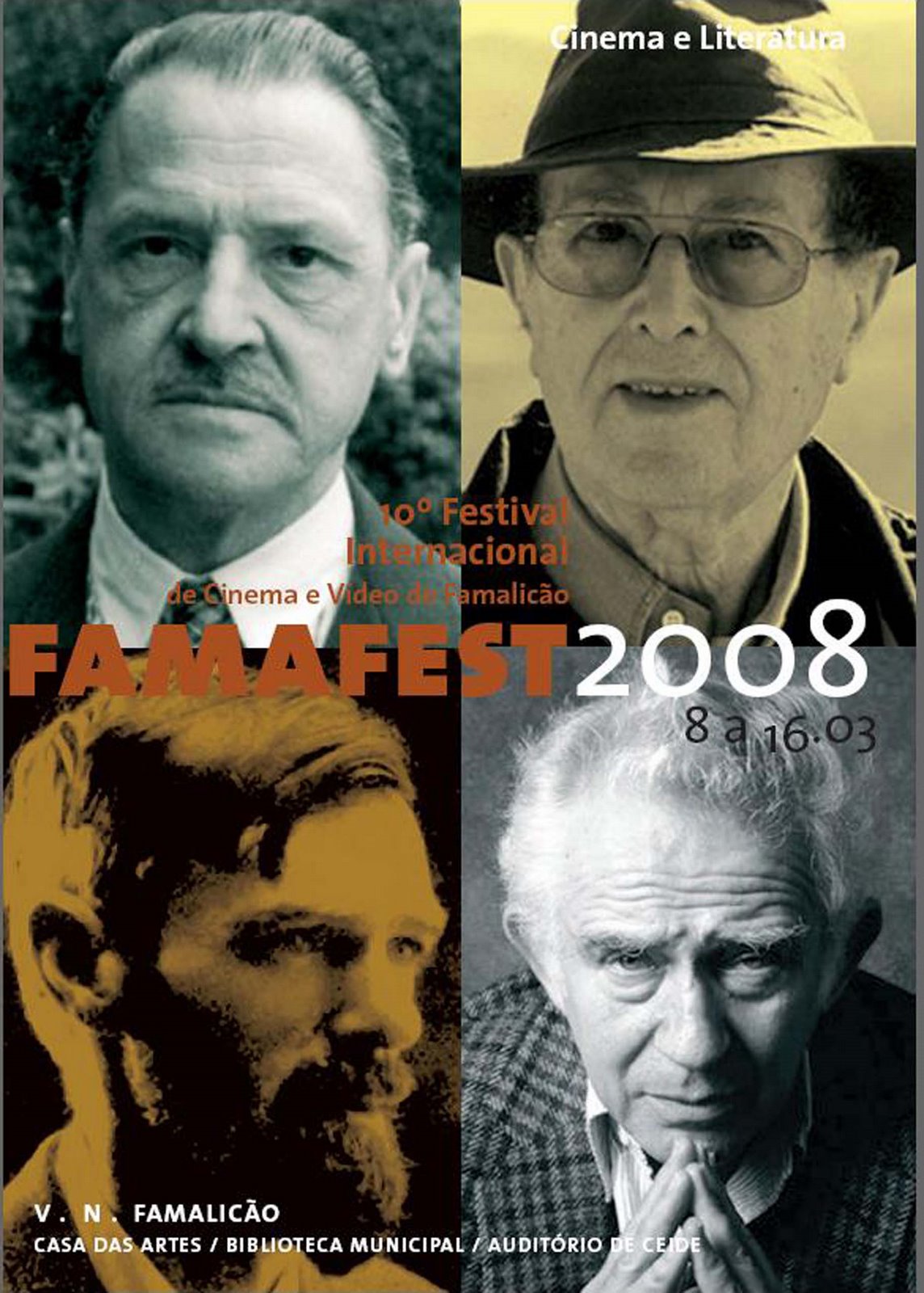:
NADA A TEMER?
Ultimamente tenho lido, lido, lido imenso. Dezenas de policiais de excelente qualidade, alguns prodigiosos, de que tentarei ir dando conta no blogue “Policiais no Cinema”. Mas, entremeados com os policiais, tenho-me deliciado com clássicos e modernos, de Thomas Mann a Gonçalo M. Tavares, de Walter Hugo Mãe a Giorgio Bassani, de Guy de Maupassant aos “Portugueses”, de Barry Hatton, e sei lá mais quê. Agora ando a ler “Nada a Temer”, do britânico Julian Barnes, um dos meus ingleses actuais preferidos.
“Nada a Temer” é um romance (será?) lúcido, bem documentado, irónico, erudito que pensa e estuda a morte. Coisa aparentemente macabra. Mas Barnes mostra que não. Fala do medo da morte. Medo da morte ou medo de morrer? Foi esta questão que me leva a transcrever um excerto desta obra que acho brilhante e que dá bem a ideia do “problema”. Um “problema” muito democrático que se torna, porém, em condições normais, “premente” para quem ultrapassou os sessenta.
Diz assim:
“Se temos medo da morte, não temos medo de morrer; se temos medo de morrer, não temos medo da morte. Mas não hã razão lógica para que um medo exclua o outro; não há razão para que o espírito, com um pouco de treino, não possa expandir-se e incluir ambos. Na qualidade de pessoa que não se importava de morrer desde que depois não ficasse morto, posso certamente começar a elaborar quais seriam os meus medos em relação à morte. Receio ser como o meu pai que, sentado numa cadeira ao lado da cama do hospital, me censurava com irritação pouco habitual — «Disseste que vinhas ontem.» — antes de deduzir pelo meu embaraço que fora ele quem confundira as coisas. Receio ser como a minha mãe, quando imaginava que ainda jogava ténis. Receio ser como aquele meu amigo que, ansiando pela morte, nos confidenciava incessantemente que conseguira obter e engolir comprimidos suficientes para se matar, mas se encontrava agora numa agitação ansiosa, porque os seus actos podiam causar problemas a uma enfermeira. Receio ser como aquele homem de letras de uma cortesia inata, que conheci e que, ao ficar senil, começou a falar constantemente à mulher nas fantasias sexuais mais extremas, como se isso fosse o que secretamente sempre desejara fazer-lhe. Receio ser como Somerset Maugham octogenário, que baixava as calças atrás do sofá e defecava no tapete (apesar de isso me fazer lembrar alegremente a minha infância). Receio ser como aquele meu amigo Idoso, homem ao mesmo tempo refinado e cheio de melindres, cujo olhar mostrava um pânico animal quando a enfermeira do lar anunciava, diante das visitas, quo estava na hora de mudar a fralda. Receio o riso nervoso que terei quando não estiver a perceber uma alusão ou tiver esquecido uma lembrança comum ou um rosto familiar, e começar a desconfiar, primeiro duma grande parte e depois de tudo o que julgo saber. Receio o cateter e o elevador de escadas, o corpo incontinente e o cérebro devastado. Receio o destino de Chabrier/Ravel, não saber quem fui nem o que fiz. Talvez Stravinsky, na velhice extrema, tivesse esses finais em mente quando chamava do quarto a mulher ou algum membro da família. «De que precisas?», perguntavam-lhe. «De ter a certeza da minha própria existência», respondia. E a confirmação podia vir sob a forma de um afago de mão, de um beijo ou de lhe porem a tocar um dos seus discos preferidos.
Arthur Koestler, na velhice, orgulhava-se duma adivinha que formulara: «E melhor para um escritor ser esquecido antes de morrer, ou morrer antes de ser esquecido?» (Jules Renard sabia a resposta: «”Poil de Carotte” e eu vivemos juntos, e espero morrer antes dele,») Mas é um «preferimos o quê» suficientemente poroso para deixar que se infiltre uma terceira possibilidade: o escritor, antes de morrer, pode ter perdido toda a memória de ser escritor.
Quando perguntaram a Dodie Smith se ela se lembrava de ter sido uma dramaturga famosa ela respondeu: «Sim, acho que sim», disse-o exactamente da mesma maneira — com uma espécie de concentração, sobrolho franzido, moralmente consciente da exigência da verdade — como eu a vira responder a dezenas de perguntas ao longo dos anos. Por outras palavras, pelo menos continuava igual a si própria. Para além desses medos mais imediatos de deterioração física e mental, é isto que esperamos e desejamos para nós próprios. Queremos que as pessoas digam: «Até ao fim foi ele próprio, mesmo sem conseguir falar/ver/ouvir.» Embora a ciência e o autoconhecimento nos tenham feito duvidar daquilo que compõe a nossa individualidade, queremos continuar a encarnar essa personagem que nos convencemos, talvez erradamente, que é nossa e só nossa.”
Ed. Quetzal.