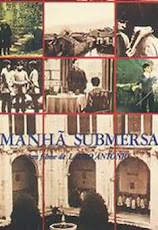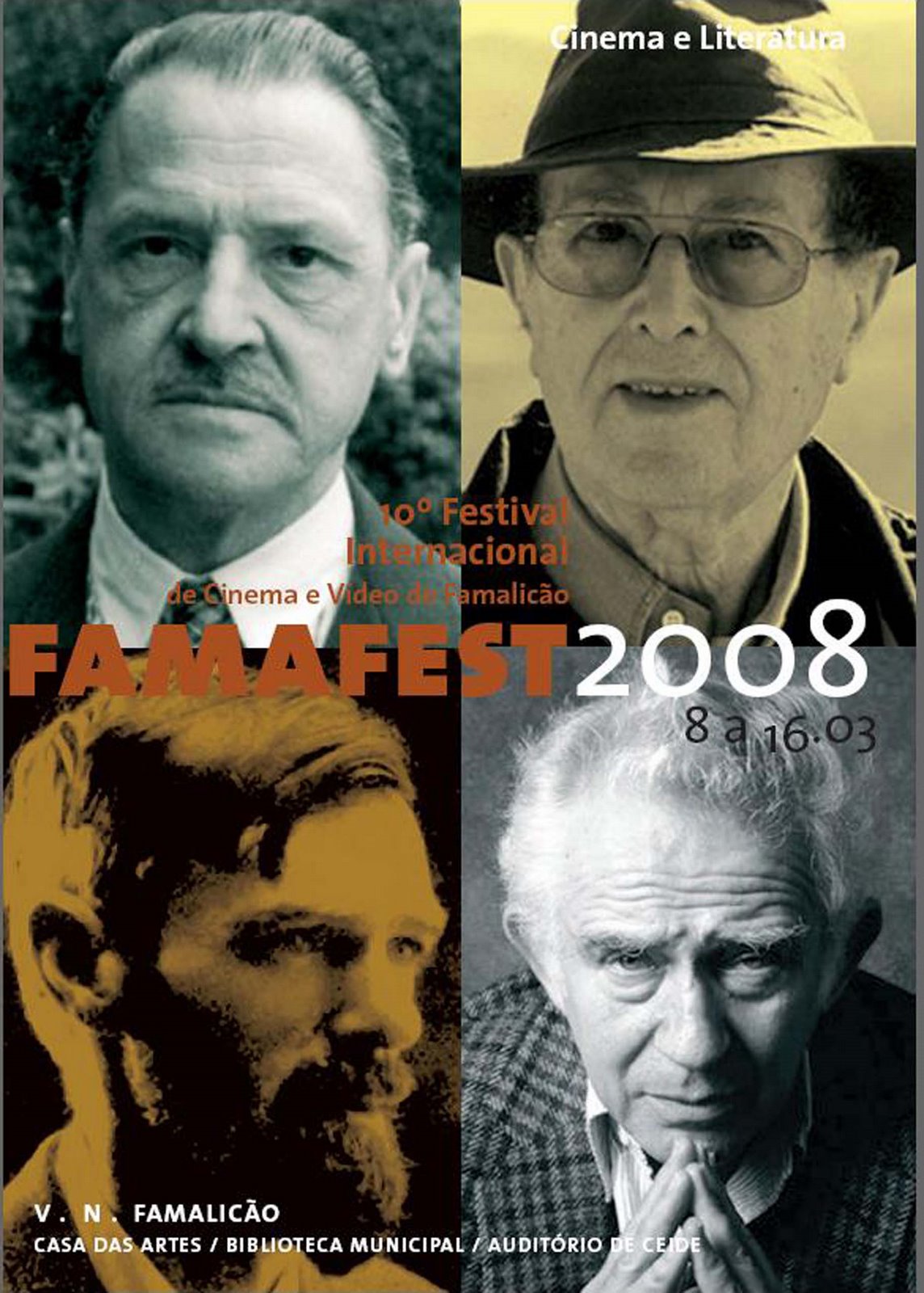PIRANDELLO
Afirma
a companhia “mala voadora”: “Pirandello” não é um espectáculo de Pirandello.
Quer isto dizer: não é uma encenação de uma peça de teatro escrita por
Pirandello. E, apesar de o seu nome dar título ao espectáculo, também não se
trata de uma biografia do italiano Luigi Pirandello que nasceu em 1867 e morreu
em 1936, autor multifacetado e distinguido com o Prémio Nobel da Literatura em
1934. Mas é a história de uma vida que vamos contar – a de um homem inventado
por Pirandello no livro “Ele Foi Mattia Pascal”, ou “O Falecido Mattia Pascal”.
Na verdade, não é bem essa história, mas uma parecida... Na verdade, a história
que a mala voadora vai contar é a de Albano Jerónimo. O Falecido Albano
Jerónimo”.
Aparentemente
está tudo dito quanto ao texto que se apresenta como “Pirandello”. Tanto podia
chamar-se “Pirandello” como “Shakespeare”, “Gil Vicente” ou “José Saramago”.
Agarra-se numa obra de um autor, reduz-se a uma anedota, pega-se nessa anedota
e constrói-se com ela um espectáculo essencialmente divertido, inventivo,
graficamente de boa qualidade, muito bem interpretado e ponto.
Ainda o
texto da “mala voadora”: “Pirandello”, um elogio da ficção, é um laboratório de
meta-teatralidade em torno de um texto não-dramático do dramaturgo mais
meta-teatral do século XX. Sobrepõe-se, ao abismo ficcional que caracteriza o
romance, uma meta-teatralidade que não é aquela que Pirandello usa nos seus
próprios textos dramáticos, mas uma outra, inventada a partir da narrativa
não-dramática”. Com este texto fica-se a perceber o que foi pretendido. Apesar
de um certo pretensiosismo de linguagem. Ou seja, o que se tenta é reduzir a narrativa
dramática a uma não narrativa não dramática.
Uma
visão moderna, sim, moderna, inscrevendo-se numa linha que tem vindo a vingar
junto de certos grupos teatrais mais recentes, a estética de “mala voadora” é
de uma grande coerência. Quem procura mais do que “espectáculo” não encontra. O
vaudeville de Georges Feydeau é muito mais consistente. Aqui, o que funciona é
a aparência. Os cenários de José Capela parecem construções de legos, passados
pela imaginação de Robert Wilson, são muito bonitos e funcionam muito bem.
Guarda-roupa a condizer. Tecnicamente há que dizer que tudo rola eficazmente,
luz, som, etc. A interpretação é muito boa, quase não apetecendo sublinhar
ninguém, ainda que Albano Jerónimo e Custódia Gallego o possam merecer, mas a verdade
é que Anabela Almeida, David Cabecinha, David Pereira Bastos, Marco Paiva,
Maria Ana Filipe, Mónica Garnel, Tânia Alves e Joana Costa Santos vão muito bem
no registo escolhido. A encenação de Jorge Andrade é realmente muito
imaginativa, cheia de achados de linguagem e de situações, o que transforma
“Pirandello” num passatempo que se vê bem e se desfruta como uma taça de
champanhe. A metáfora, porém, não funciona com todos. Eu, por exemplo, não
gosto de champanhe, o que não quer dizer que não tenha gostado de ver o
espectáculo. Mas chamar-lhe “Pirandello”, custa um bocado…
PIRANDELO
a
partir de “Ele Foi Mattia Pascal”, de Luigi Pirandello; dramaturgia Jorge
Andrade com David Cabecinha, Fernando Villas-Boas; direcção Jorge Andrade;
cenografia José Capela com edição de imagem de António MV e José Carlos Duarte;
figurinos José Capela; desenho de luz João d’Almeida; banda sonora Rui Lima e
Sérgio Martins com a participação de alunos da Escola de Música do
Conservatório Nacional; cabelos Carla Henriques; interpretação: Albano
Jerónimo, Anabela Almeida, Custódia Gallego, David Cabecinha, David Pereira
Bastos, Marco Paiva, Maria Ana Filipe, Mónica Garnel, Tânia Alves e Joana Costa
Santos; produção mala voadora Manuel Poças e Joana Costa Santos; assessoria
gestão/programação mala voadora: Vânia Rodrigues; coprodução TNDM II, Mala
Voadora; M/12 anos; duração: 90 minutos; de 12 de Março a 4 de Abril de 2015.





.jpg)