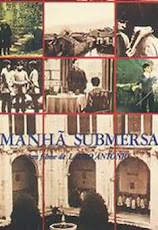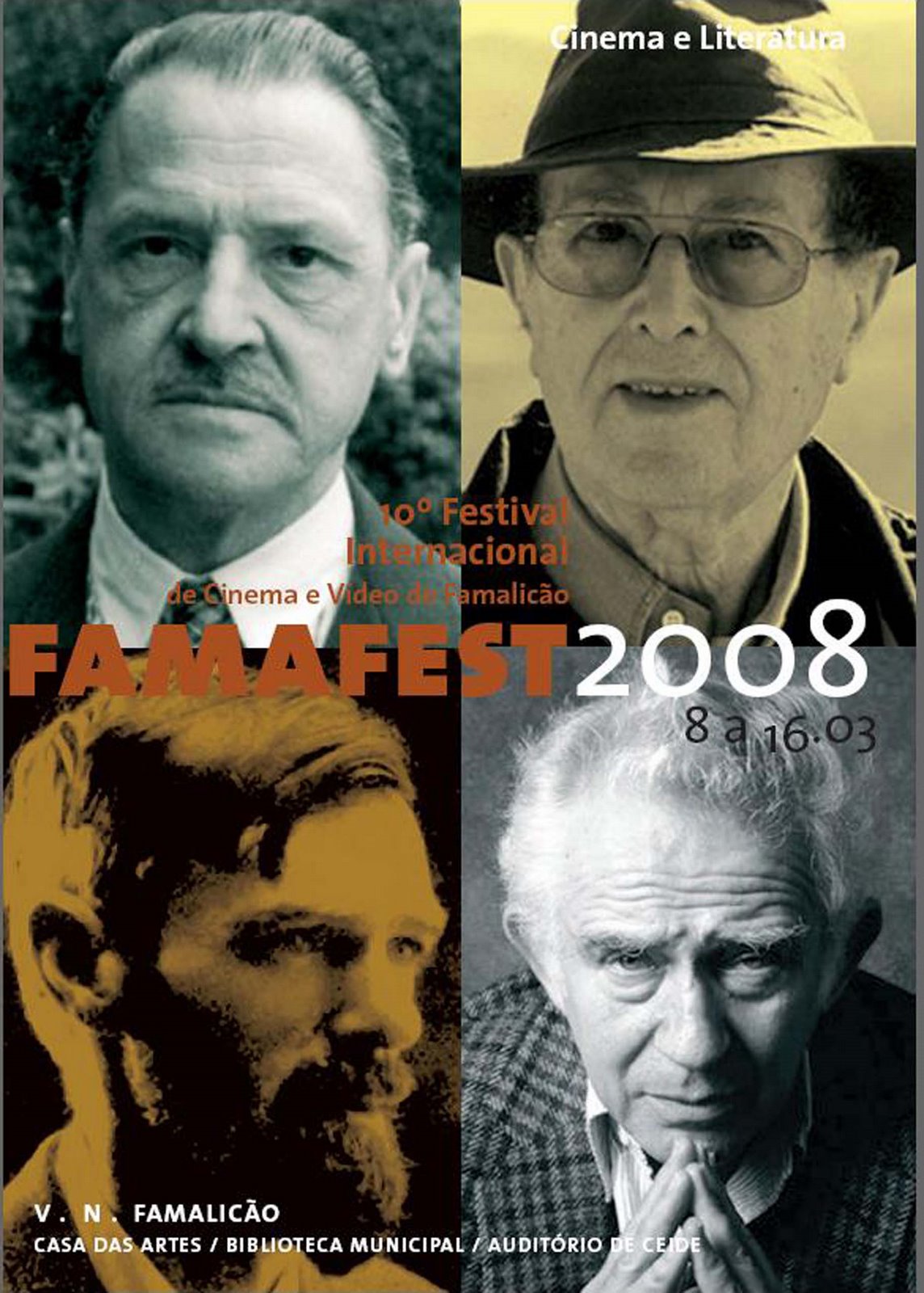No palco em Portugal, agora em Lisboa
Disse-o e escrevi-o quando vi o espectáculo no Rivoli, no Porto: acredito que este seja o melhor musical encenado até hoje por Filipe La Feria. O que não é dizer pouco, pois já vi muitos e muito bons musicais com a marca La Féria. Mas “Um Violino no Telhado” tem algo que nalguns outros não existia: uma unidade de estilo e de concepção que torna a obra um todo quase inatacável. Um cenário sóbrio, mas de grande expressividade, um guarda-roupa de uma eficácia e de um bom gosto extraordinários, um bom jogo de luzes, uma marcação de cena e uma coreografia muito acertadas, uma trabalho de actores globalmente muito forte, uma dramaturgia que consegue momentos de amargura e alegria, de desespero e de ternura muito bem doseados, sem serem forçados, uma história comovente e humana como poucas, sem carregar na tragédia (e como foi trágica a sorte do povo judeu na Rússia dos Csars e depois na URSS, que para eles não houve revolução que lhes valesse!), mas sem adocicar o drama para satisfazer a clientela.
Da história já falei (e agora transcrevo o que então aqui publiquei aquando da visita ao Rivoli), mas vale a pena actualizar alguns apontamentos. Reafirmar a extraordinária actuação de José Raposo, num dos seus melhores e mais transpirados trabalhos, onde repete um nervo, um entusiasmo, uma vibração invulgares, a segurança contida de Rita Ribeiro, a entrega de Joel Branco, numa das suas mais logradas actuações, as nuances de Hugo Rendas, igualmente numa das suas melhores prestações, o cossaco muito bem desenhado por Carlos Quintas, as presenças doces mas afirmativas de Cátia Garcia e Sissi Martins, num elenco onde ainda se podem e devem citar Helena Rocha, Jorge Sousa Costa, Alexandre Falcão, Rui Andrade, entre muitos outros e um grupo de arrebatados cossacos.
Com “Um Violino no Telhado”, Filipe La Féria merece o melhor. E nestes tempos de crise, nada melhor do que um bom espectáculo musical que, sem calar a dor, nos ofereça a esperança e o colorido da vida. Do amor. Da alegria de permanecer, mesmo quando as adversidades parecem inultrapassáveis.
Ao todo são 58 actores, cantores, bailarinos e músicos, a maioria dos quais oriundos do Norte. Da Ucrânia surgiu o grupo de bailarinos que interpretam os cossacos. Excelentes.
Num teatro a rebentar pelas costuras (numa quarta-feira), com gente de todos os estratos sociais, com os rostos felizes dos espectadores a acompanharem com um visível prazer o que lhes era dado ver no palco, com muita gente nova no público (quem disse que o musical era coisa de terceira idade não sabe do que fala!), este foi o espectáculo que sabe bem ver e sabe bem saber que existe. Teatro do melhor, com público do melhor, numa noite memorável do Porto.
saber mais AQUI
“Fiddler on the Roof” parte de uma obra originalmente chamada “Tevye”, incluída numa colectânea de contos de Sholem Aleichem (“Tevye and His Daughters” ou “Tevye the Milkman”), escrita em Yiddish e publicada em 1894.
Sholem Aleichem (de nome próprio Sholem Rabinovitz) foi um dos mais famosos escritores europeus judeus. Nasceu em 1859, numa família que vivia em Perevaslav, uma pequena cidade no sul da Rússia. Pouco depois mudaram-se para Voronkov, e toda a vida de Sholem Rabinovitz é a base da sua inspiração literária. A quantidade de irmãos e parentes que reunia à sua volta está na base da intriga de “Um Violino no Telhado.” A sua vida irrequieta e tumultuosa, cheia de altos e baixos, tendo por vezes que fugir a credores que o não largavam, ou a perseguidores rácicos, não “deu um livro”, como muitas vezes se afirma, mas vários. Passou por diversas cidades, até chegar a Odessa, onde escreve a obra de que nos ocupamos, passando depois a Kiev, onde assiste aos massacres e às perseguições, tanto de czaristas como dos bolcheviques a caminho do triunfo, o que o levam a emigrar para a América, fixando-se em Nova Iorque, por pouco tempo, voltado pouco depois à Europa, à Alemanha, onde não feliz e apanhou o início da I Guerra Mundial. Regressa novamente à América como fugitivo. A 16 de Maio de 1916 morre pobre, mas deixa uma obra literária de mérito reconhecido, entre contos e peças de teatrro.
“Fiddler on the Roof”, o musical teatral, e depois o filme, descreve-nos o dia-a-dia numa aldeia russa da Ucrânia, Anatevka, onde predomina uma fechada comunidade judaica. Estamos ainda em plena época czarista, mas os tempos anunoiam mudança. Em redor do ano de 1905, esses sinais eram já visíveis. Tevye (Zero Mostel, no teatro; Topol, no cinema), o leiteiro da aldeia, e a sua família (onde abundam fílhas em idade de casar) são o centro sobre o qual irá rodar toda a intriga. O período é de perturbações sociais, com as contínuas ameaças do czarismo aos judeus e, simultaneamente, essa agitação estabelece o confronto e a contradição. Anatevka é delas retrato, desde a exaltação de uma tradição judaica, de características perfeitamente imutáveis, até à descoberta dos sinais de tempos novos que certas figuras prenunciam com a força das suas convicções. A obra irá, portanto, oscilar entre a tradição e a novidade, entre o amor e o ódio, entre o czarismo agonizante e a vontade popular em vertiginosa ascensão. Uma oscilação de extremos que encontrará o seu motivo maior numa raiz rácica, fértil em provocar confrontos.
De todo este clima Tevye é igualmente um bom exemplo. Nas suas longas conversas com Deus, em momento de corte e ruptura numa progressão dramática ditada pela acção (e que propiciam a introdução de alguns “números” musicais), Tevye funciona numa rudimentar dialéctica que se expressa num simples jogo de alternâncias de razões de certo peso (“por um lado, isto”, ... “por outro lado, aquilo”). Será este espírito aberto à dialéctica, ao confronto dos contrários que, apesar de tudo, obrigará Tevye a abandonar o tradicionalismo em que se baseava toda a sua experiência, voltando-se para novas aventuras e esperanças futuras. A maneira como vai encarando o casamento de cada uma das suas três filhas mais velhas é bem exemplo dessa mudança que se vai operando no seu comportamento e modificando a sua mentalidade.
No início da obra, Tevye explica: “Um violino no telhado, porquê? Porque corresponde à nossa maneira de ser. Esta é a nossa terra! Mantêmo-la com a força da nossa tradição. Temos tradições para tudo, para comer, para trabalhar, para vestir, para ter a cabeça coberta. Como começou tudo isto? Não sei. Mas é a tradição.” Há quem diga que o violino é o simbolo da sobrevivência da cultura e do estilo de vida judaicos na Europa de Leste e não se fazem rogados a estabelecer comparações entre este musical e a obra pictórica de outro judeu famoso, Marc Chagall, que também não se cuibia de colocar violinistas em situações de precária estabilidade.
 O musical da Broadway estreou em 1964, fez mais de 3.000 representações pela primeira na história do género. Joseph Stein e Jerome Kobbins (este na adaptação e coreografia) foram os principais responsáveis do êxito no teatro, bem assim como o autor da musica, Jerry Bock. A sua estreia na Broadway foi coroada com a nomeação para dez Tony Awards, de que venceu nove, incluindo Melhor Musical do ano, Melhor Partitura, Melhor Libreto, Melhor Encenação e Melhor Coreografia. Depois foi reposto por quatro vezes e, em 1971, passou ao cinema. Para esta versão cinematográfica seria chamado, Norman Jewison, um cineasta irregular, mas que assinou alguns títulos particularmente interessantes, que se encarregaria da encomenda com certo apuro técnico e algum brilhantismo espectacular.
O musical da Broadway estreou em 1964, fez mais de 3.000 representações pela primeira na história do género. Joseph Stein e Jerome Kobbins (este na adaptação e coreografia) foram os principais responsáveis do êxito no teatro, bem assim como o autor da musica, Jerry Bock. A sua estreia na Broadway foi coroada com a nomeação para dez Tony Awards, de que venceu nove, incluindo Melhor Musical do ano, Melhor Partitura, Melhor Libreto, Melhor Encenação e Melhor Coreografia. Depois foi reposto por quatro vezes e, em 1971, passou ao cinema. Para esta versão cinematográfica seria chamado, Norman Jewison, um cineasta irregular, mas que assinou alguns títulos particularmente interessantes, que se encarregaria da encomenda com certo apuro técnico e algum brilhantismo espectacular.De um ponto de vista musical o filme tem duas ou três sequências bastante boas, sobretudo na primeira parte, nomeadamente os já famosos “Tradition” “If I Were a Rich Man” (onde a presença de Topol, que terá sido a grande revelação desta obra, é verdadeiramente notável, de força, de segurança, de nervo e ritmo). A coreografia de Jerome Robbins (o mesmo de “West Side Story”) é, ela também, tumultuosa, agressiva e vigorosa, sobretudo nos bailados com grande número de intervenientes (cenas na taberna, o casamento de uma das filhas de Tevye, todo o falso sonho de Tevye, conquanto que este seja de um gosto um tanto ou quanto duvidoso). De qualquer forma é possível verificar-se um estilo Jerome Robbins, bastando para isso comparar alguns bailados de “West Side Story” com outros deste “Fiddler on the Roof”.
O trabalho de Norman Jewisson é, por seu turno, bastante cuidado, criando um clima de certo lirismo. Aqui e ali alguns efeitos menos discretos, ou mais discutíveis (uma ou outra sobreposição rebuscada, sobretudo uma sequência, quase no final da película, com um bailado a dois, em silhueta, que nos parece de grande facilidade formal), poderão ter retirado uma maior coerência, mas no seu todo, o filme mantém um nível bastante aceitável, sendo de realçar o trabalho dos actores, particularmente o de Topol, como jâ assinalámos atrás.
No ano da sua estreia (1971), “Um Violino no Telhado” demonstrou ser uma certa revitalização do “musical”, uma apetência pela renovação no ínterior de um género então já em crise, que daí em diante não deixou de se agravar, apesar do aparecimento de meia dúzia de títulos que, de hora em vez, voltam a agitar o marasmo.
Na cerimónia de atribuição dos Oscars do ano, o filme teve comportamento meritório: venceu nas categorias de Melhor Fotografia, Melhor Som, Melhor Direcção Artística e Melhor Banda Sonora Adaptada, não transformando em estatuetas as nomeações para Melhor Filme, Melhor Actor e Melhor Actor Secundário.
(*) Texto que apareceu no programa do espectáculo de La Féria no Teatro Rivoli no Porto. No Teatro Politeama volta a aprecer um excerto deste texto.
UM VIOLINO NO TELHADO
Título original: Fiddler on the Roof
Realização: Norman Jewison (EUA, 1971); Argumento: Joseph Stein, segundo obras de Sholom Aleichem (romance "Tevye's Daughters e a peça "Tevye der Milkhiker""); Música: Jerry Bock; Fotografia (cor): Oswald Morris; Montagem: Antony Gibbs, Robert Lawrence; Casting: Lynn Stalmaster; Design de produção: Robert F. Boyle; Direcção artística: Michael Stringer, Veljko Despotovic; Decoração: Peter Lamont; Guarda-roupa: Joan Bridge, Elizabeth Haffenden; Maquilhagem: Del Armstrong, Gordon Bond, Wally Schneiderman; Direcção de produção: Richard Carruth, Larry DeWaay, Ted Lloyd; Assistentes de realização: Terence Churcher, Paul Ibbetson, Terence Nelson, Vladimir Spindler, Stevo Petrovic; Departamento de arte: Sam Gordon, William Maldonado, Mentor Huebner, Harold Michelson; Som: David Hildyard, Gordon K. McCallum, Les Wiggins; Produção:Norman Jewison, Patrick J. Palmer; Companhias de produção: Cartier Productions, The Mirisch Corporation. Intérpretes: Topol (Tevye), Norma Crane (Golde), Leonard Frey (Motel Kamzoil), Molly Picon (Yente), Paul Mann (Lazar Wolf ), Rosalind Harris (Tzeitel), Michele Marsh (Hodel), Neva Small (Chava), Paul Michael Glaser (Perchik), Ray Lovelock (Fyedka), Elaine Edwards (Shprintze), Candy Bonstein (Bielke), Shimen Ruskin, Zvee Scooler, Louis Zorich, Alfie Scopp, Howard Goorney, Barry Dennen, Vernon Dobtcheff, Ruth Madoc, Patience Collier, Tutte Lemkow, Stella Courtney, Jacob Kalich, Brian Coburn, George Little, Stanley Fleet, Arnold Diamond, Marika Rivera, Mark Malicz, Aharon Ipalé, Roger Lloyd-Pack, Vladimir Medar, Sammy Bayes, Larry Bianco, Walter Cartier, Peter Johnston, Guy Lutman, Donald Maclennan, René Sartoris, Roy Durbin, Ken Robson, Robert Stevenson, Lou Zamprogna, Susan Claire, Nigel Kingsley, Joel Rudnick, Petra Siniawski, Susan Sloman, Kenneth Waller, etc. Duração: 181 minutos; Distribuição do filme: Rank Filmes; Distribuição do DVD: Metro Goldwing Mayer; Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia: 3 de Novembro de 1971 (EUA); Locais de filmagem: Gorica, Croácia.













_NRFPT05.jpg)








 Diz Philippe Sireuil que esta peça “dá-nos o osso, o nervo e a carne de um belo pedaço de teatro que deve ser devorado sem qualquer moderação”. Nascido em 1952, no então Congo Belga, Philippe Sireuil é um dos mais destacados encenadores de língua francesa da actualidade. Ao longo da sua carreira encenou textos de Strindberg, Peter Handke, Bertolt Brecht, Alfred Musset, Tchecov, Koltès, Marguerite Duras, Jean Luc Lagarce, Paul Claudel, Ibsen, Marivaux, Broch, Molière, Shakespeare, entre outros.
Diz Philippe Sireuil que esta peça “dá-nos o osso, o nervo e a carne de um belo pedaço de teatro que deve ser devorado sem qualquer moderação”. Nascido em 1952, no então Congo Belga, Philippe Sireuil é um dos mais destacados encenadores de língua francesa da actualidade. Ao longo da sua carreira encenou textos de Strindberg, Peter Handke, Bertolt Brecht, Alfred Musset, Tchecov, Koltès, Marguerite Duras, Jean Luc Lagarce, Paul Claudel, Ibsen, Marivaux, Broch, Molière, Shakespeare, entre outros.

 “The Two-Character Play”, data de 1973, e não é das suas peças mais conhecidas, correspondendo mesmo a um tipo de teatro não muito habitual no autor, se bem que seja marcadamente definida pelos seus temas obsessivos. É precisamente esta “Peça para Dois” que “A Barraca” tem em cena, numa encenação e interpretação de Rita Lello, acompanhada no palco por Pedro Giestas.
“The Two-Character Play”, data de 1973, e não é das suas peças mais conhecidas, correspondendo mesmo a um tipo de teatro não muito habitual no autor, se bem que seja marcadamente definida pelos seus temas obsessivos. É precisamente esta “Peça para Dois” que “A Barraca” tem em cena, numa encenação e interpretação de Rita Lello, acompanhada no palco por Pedro Giestas.