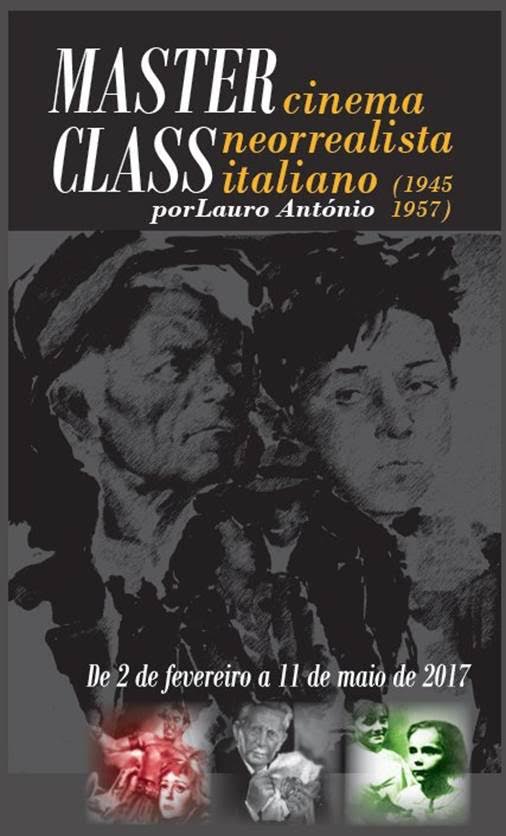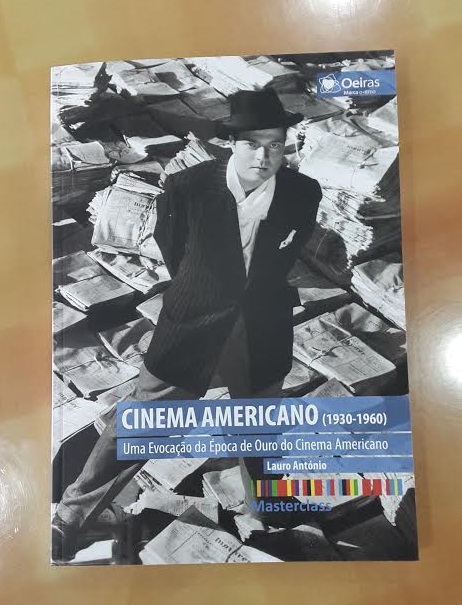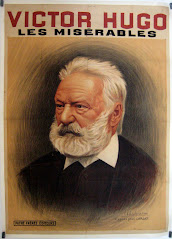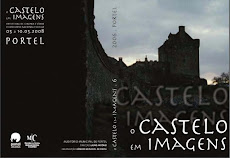O GRANDE
GATSBY
“The Great Gatsby”, do norte-americano F. Scott
Fitzgerald, é considerado um dos grandes romances do século XX e um dos que
melhor retrata o brilho e o glamour dos anos 20 e, ao mesmo tempo, todas as
contradições sociais e morais que esta época encerrou e que haveria de
desencadear primeiramente a Grande Depressão da década de 30 e, posteriormente,
o conturbado período das ditaduras, sobretudo na Europa.
Publicado em 1925, tem como cenário Nova Iorque e Long
Island, decorria o verão de 1922. A América sai do pesadelo da I Guerra
Mundial, atravessa a Lei Seca, a proibição da venda de bebidas alcoólicas, o
aparecimento do gangsterismo em grande escala, deixa-se levar pelas fortunas
que se fazem e desfazem num ápice, sofre o boom bolsista, a efervescência
financeira, as bolhas imobiliárias, dança ao som da explosão do jazz e da
loucura das grandes festas, fervilha com a euforia de uma sociedade a viver na
base de uma sensualidade desbragada, de um materialismo desenfreado, e
extasia-se com a criatividade das artes, da literatura ao cinema, da música ao
teatro, da pintura à arquitectura. Vive-se perigosamente ao volante de carros
que atingem os 40 ou 50 quilómetros / hora, de aviões, de transatlânticos,
consome-se whisky e drogas, viaja-se até Paris para se estar actualizado com as
últimas do mundo. Fitzgerald passa por lá, tal como Hemingway, e tantos outros.
Nick Carraway, o narrador de “The Great Gatsby”, é um bom
retrato deste escritor fascinado pelas luzes e os sons, pela vertigem e os
amores funestos, pelo glamour dos milionários e do ambiente, mas, ao mesmo
tempo, ciente de que tudo isso representava algo de profundamente sintomático
de uma decadência moral e de uma gritante desigualdade social.
Curiosamente, “The Great Gatsby” não conheceu desde logo
o sucesso de que hoje goza. Apesar de adaptado ao teatro, em 1926, numa
produção do Ambassador Theater, da Broadway, escrita para palco por Owen Davis,
encenada por George Cukor, e até ter tido uma versão cinematográfica, “O Grande
Senhor Gatsby”, igualmente de 1926, realizada por Herbert Brenon, com Warner
Baxter, Lois Wilson e Neil Hamilton, nos principais papéis. Mas a recepção
popular foi tímida, e nas décadas seguintes continuou a não ser devidamente
valorizado. Só depois da II Guerra Mundial, quando voltou a ser reeditado,
entre 1945 e 1953, ganhou o folego que presentemente lhe é dedicado. Sem
qualquer tipo de hesitação se pode afirmar que este é não só um romance de uma
geração, mas também uma obra que ultrapassa gerações e períodos e se instala na
qualidade de clássico. Li-o várias vezes ao longo da vida, reli-o agora por
causa da estreia do filme de Baz Luhrmann, e o encantamento supera-se, a cada
nova leitura. A delicadeza da escrita, a inteligência da estrutura narrativa, a
forma subtil, mas acutilante, como situa personagens e situações, a fina
descrição das contradições sociais, afloradas sem demagogia, mas delimitadas
com minucia, tudo isto faz do romance uma obra admirável, única.
Nick Carraway, o narrador, o escritor que nos conta o que
vamos ler, é um jovem corrector de bolsa que vem trabalhar para Nova Iorque e
se instala em Long Island, numa casa vizinha do palacete de um excêntrico milionário,
Jay Gatsby. Um braço do Atlântico separa-o da mansão de Tom Buchanan, um rico
jogador, casado com Daisy, prima de Nick.
Gatsby tem um passado nebuloso, parece que passou por
Oxford, enriqueceu possivelmente à custa das bebidas proibidas, dá festas
sumptuosas, todos os sábados, para onde convergem centenas de pessoas, a
maioria das quais sem convite. Sabe-se depois que Gatsby ama há muito Daisy e
que estas festas são uma forma de “chamar” Daisy para junto de si, o que não
acontece. Ela não comparece. Para se fazer encontrar com ela, pede a Nick que
improvise um chá em sua casa, tido como ocasional. O drama sentimental explode
e será o centro nevrálgico do romance, mas, por detrás desta má gestão das
emoções, há todo um retrato de uma sociedade que é particularmente bem dado, em
pinceladas imprecisas, mas extremamente justas.
F. Scott Fitzgerald é um escritor admirável, a sua obra
não é vasta, mas é inesquecível. Nascido em 1896 no Minnesota, haveria de
morrer novo, em Hollywood, no ano de 1940. A sua vida foi acidentada, o
casamento com Zelda Sayre conflituoso, e terminaria em tragédia, com o
internamento dela num hospício, e os excessos, sobretudo o álcool, haveriam de
precipitar a sorte do escritor. Para lá desse fabuloso “The Great Gatsby”, assinou
ainda “Este Lado do Paraíso”, “Belos e Malditos”, “Terna é a Noite”, “Contos da
Era do Jazz”, e “The Last Tycoon” (O Último Magnata), este publicado
postumamente, em 1941.
“The Great Gatsby” conheceria ainda duas outras
adaptações ao cinema, antes desta que se encontra presentemente em salas de
estreia. Uma de 1949, “Cruel Mentira”, no seu título português, uma realização
de Elliott Nugent, interpretada por Alan Ladd, Betty Field, Macdonald Carey,
outra de 1974, dirigida pelo britânico Jack Clayton, com argumento escrito por
Francis Ford Coppola e um elenco de luxo, Robert Redford, Mia Farrow, Bruce
Dern. Uma obra bastante interessante.
Baz Luhrmann, que assina a presente versão, apresentada
em 3D, é australiano e um cineasta muito particular. A sua filmografia é
reduzida em títulos, mas exuberante em resultados. Há quem goste, quem admire
profundamente, quem não tolere. “Strictly Ballroom” (Vem Dançar!), data de
1992, é a sua primeira longa-metragem como realizador. Seguem-se “Romeo +
Juliet” (1996), “Moulin Rouge!” (2001) e “Austrália” (2008). Excessivo e
luxuriante nas suas criações, era com muita curiosidade que se esperava a sua
versão de “The Great Gatsby” (2013), com Leonardo DiCaprio e Carey Mulligan,
rodada em grande parte na Austrália, precisamente em Sidney.
O resultado foi recebido de forma catastrófica por grande
parte da crítica, mas julgo que existe um enorme preconceito e muita má vontade
neste juízo. A obra, sobretudo vista em, 3D, é muito desequilibrada,
surpreendente, inquietante, mas globalmente muito interessante e fascinante
pelas propostas e pelos resultados conseguidos. O arranque não é brilhante,
durante quinze a vinte minutos cheguei a temer o pior, mas depois entramos no
espírito da proposta, mergulhamos na nebulosa estilística e começa-se a
perceber as intenções do cineasta, que cria um produto absolutamente novo: não
é um filme tradicional, nem sequer se aproxima dos vulgares filmes em 3 D, onde
os efeitos se impõem por si só.
Em “O Grande Gatsby”, as 3D associam-se a outros
processos para oferecerem uma profundidade de campo, um desmultiplicar de
planos que torna a obra muito sugestiva. Neste, como em outros aspectos,
lembra-nos “O Mundo a Seus Pés”, de Orson Welles. Ao que assistimos são imagens
que se estendem no espaço, uma banda sonora que se multiplica, com narração e
vozes das personagens, uma história que vem do passado e se estende para o
futuro, ancorada num frágil presente, são visões de uma estrutura social que só
pode tender à tragédia, com a sofisticada existência dos milionários, ricos e
belos, mas igualmente malditos, e um coro de operários e desprotegidos que os
cerca e os caracteriza obviamente como inúteis e fúteis. E perigosos.
As 3D funcionam como complemento mais visível desse
espraiar por diferentes planos: temos personagens em primeiro plano, palacetes
ao fundo, o mar a intervalá-los, temos pedaços de folhas de papel rasgados,
letras e frases que flutuam entre o espectador e o ecrã. Um ou outro efeito
pode ser de gosto duvidoso, mas de um modo geral, o filme consegue impor um
estilo e arrancar sequências notáveis, cenas de rua com multidões, Time Square
em dia de romaria, festas de arromba, mas também estradas negras povoadas de
operários trabalhando nas obras, enquanto os carros brilhantes dos milionários
as cruzam em alta velocidade, ignorando tudo o que não seja a sua febre de
viver, a todo o custo.
Há muita cinefilia dispersa ao longo da obra. Um cadáver
a boiar numa piscina relembra obviamente “O Crepúsculo dos Deuses” e a própria
figura do escritor se aproxima da protagonizada por William Holden. Orson
Welles não deixa de ser sugerido, até pela composição de Leonard Di Caprio.
Baz Luhrmann não terá criado a obra-prima que este filme
poderia ter sido, mas o seu arrojo e as suas propostas, juntamente com o
trabalho dos actores e a competência dos técnicos, merecem seguramente a nossa
atenção. É um relativo falhanço, mas um glorioso relativo falhanço.
O GRANDE
GATSBY
Título
original: The Great Gatsby
Realização: Baz Luhrmann (Austrália, EUA, 2013); Argumento: Baz
Luhrmann, Craig Pearce, segundo romance de F. Scott Fitzgerald; Produção: Lucy
Fisher, Catherine Knapman, Baz Luhrmann, Catherine Martin, Anton Monsted,
Douglas Wick; Música: Craig Armstrong; Fotiografia (cor): Simon Duggan;
Montagem: Jason Ballantine, Jonathan Redmond, Matt Villa; Casting: Nikki
Barrett, Ronna Kress; Design de produção: Catherine Martin; Direcção artística:
Damien Drew, Ian Gracie, Michael Turner; Decoração: Beverley Dunn;
Guarda-roupa: Catherine Martin; Maquilhagem: Catherine Biggs, Lara Jade Birch,
Maurizio Silvi, Brydie Stone, Lesley Vanderwalt, Kerry Warn; Direcção de
produção: Bill Draper, Afnahn Khan, Alex Taussig; Assistentes de realização:
Maree Cochrane, Luke Doolan, Emma Jamvold, Jennifer Leacey, Glenn Ruehland,
Samantha Smith, Eddie Thorne; Departamento de arte: Sean Ahern, Colette
Birrell, Matt Connors, Anna Faigen, Michael Horvath; Som: Wayne Pashley, Fabian
Sanjurjo; Efeitos especiais: Dan Oliver; Efeitos visuais: Tony Cole, Daniel
James Cox, Joyce Cox, Chris Godfrey, Jeremy Kelly-Bakker, Barry St. John,
Rebecca Vujanovic; Companhias de produção: Warner Bros. Pictures, Village
Roadshow Pictures, A&E Television Networks, Bazmark Films, Spectrum Films,
Red Wagon Entertainment; Intérpretes:
Leonardo DiCaprio (Jay Gatsby), Tobey Maguire (Nick Carraway), Carey Mulligan
(Daisy Buchanan), Joel Edgerton (Tom Buchanan), Isla Fisher (Myrtle Wilson),
Jason Clarke (George B. Wilson), Amitabh Bachchan (Meyer Wolfsheim), Elizabeth
Debicki (Jordan Baker), Jack Thompson (Henry C. Gatz), Adelaide Clemens
(Catherine), Brendan Maclean (Ewing Klipspringer), Kasia Stelmach (Geraldine
Peacock), Callan McAuliffe (jovem Jay Gatsby), Gus Murray (Teddy Barton), Kim
Knuckey (Senador), Stephen James King (Nelson), Alison Benstead (Anita Loos),
Max Cullen, Joel Amos Byrnes, Chris Proctor, Kate Mulvany, Gemma Ward, Jens
Holck, Sam Davis, Brenton Prince, Elliott Collinson, Conor Fogarty, Amitabh
Bachchan, Steve Bisley, Richard Carter, Jason Clarke, Adelaide Clemens, Vince
Colosimo, Max Cullen, Mal Day, Elizabeth Debicki, Lisa Adam, etc. Duração: 142 minutos: Distribuição em
Portugal: Columbia TriStar Warner Filmes de Portugal; Classificação etária: M/
12 anos; Data de estreia em Portugal: 16 de Maio de 2013.





_(photo_by_Carl_van_Vechten).jpg)