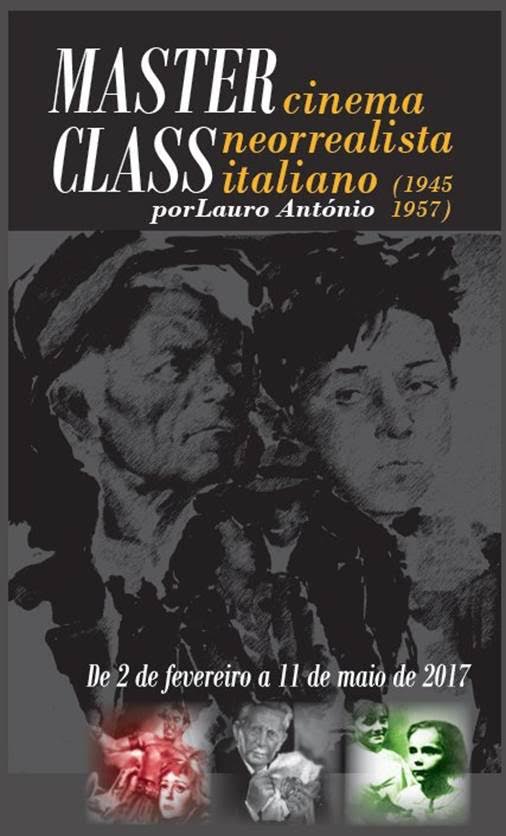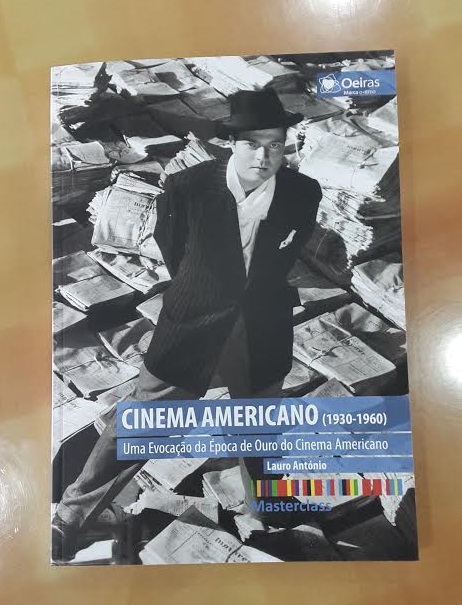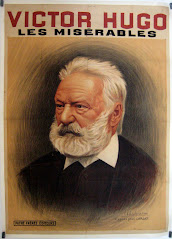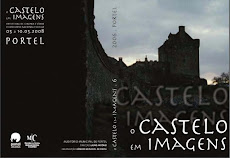O ARTISTA
“O Artista” foi uma das grandes surpresas do ano passado e encontra-se agora a disputar todos os grandes prémios internacionais, dos Globos aos Oscars, depois de ter passado fulgurantemente pelo Festival de Cannes. Trata-se de uma produção franco-belga, em grande parte rodada nos EUA, que tem tudo para agradar ao público americano, desde uma sensibilidade à flor da pele, um bom gosto indesmentível, uma toada nostálgica sobre a década de 30 (curiosamente ou talvez não, a da grande crise do pós “Crash” de 1929, que tanto tem a ver com os nossos dias, e também aquela que, em termos cinematográficos, assistiu à passagem do “mudo” para o “sonoro”), um humor discreto mas saudável, um “happy end” meio amoroso, meio laboral, que mostra que quem não desiste arranja sempre uma forma de suplantar as dificuldades, e ainda muito bons aspectos técnicos, e um elenco de superior qualidade. Tudo resumido, resulta num excelente divertimento, um entretenimento que sabe bem saborear, mas muito pouco mais.
Comecemos pelas novidades. Nenhumas ou muito poucas. Em 1976, Mel Brooks já tinha realizado um filme “mudo”, precisamente “A Última Loucura” (Silent Movie), no qual um realizador norte-americano procurava dirigir uma longa-metragem “muda”, em época de “sonoro” avançado. Curiosamente, o único que dizia uma palavra durante toda a obra, era um mimo, Marcel Marceau, que nos seus espectáculos nunca falava. Ali invertiam-se os papéis. Muito divertido e engenhoso, com Mel Brooks, Marty Feldman e Dom DeLuise em grande forma.
Também a homenagem a grandes filmes da história do cinema tem sido pano para muitas mangas, e recordo uma bem interessante, a divertida comédia detectivesca de Carl Reiner, em 1982, “Cliente Morto Não Paga a Conta” (Dead Men Don't Wear Plaid), onde se procurava homenagear o policial e o “filme negro”, com a recuperação de muitos dos estereótipos e ícones do género. A ligação entre cenas dos próprios filmes citados e as recreadas era brilhante e Steve Martin deu um salto qualitativo na sua carreira com esta interpretação. “O Artista”, em muitos aspectos, fez-me recordar este filme.
“O Artista” tenta uma evocação dos tempos gloriosos do “mudo” e, simultaneamente, recordar as provações a que estiveram submetidas algumas das grandes vedetas do cinema silencioso, quando apareceu o som síncrono no ecrã. Já o víramos de forma absolutamente notável na obra-prima de Stanley Donen e Gene Kelly, “Serenata à Chuva” (Singing the Rain), de 1952. Nesse aspecto, “O Artista” é um quase “remake” desse musical admirável, como Gene Kelly, Debbie Reynold e Donald O´Connor. “The Artist” conta-nos a história de uma grande vedeta do cinema mudo, George Valentin (Jean Dujardin), que um dia ajuda a singrar no cinema uma jovem pretendente a actriz, que aparece como figurante em pequenas cenas de dança, Peppy Miller (Bérénice Bejo), precisamente nos anos charneira em que a industria vai abandonar o cinema mudo e lançar-se no cinema sonoro. A estreia oficial do filme que Valentin acaba de rodar, logo nas cenas iniciais, não pode ser mais idêntica à sequência final de “Singing the Rain”, com a actriz medíocre a ser subalternizada no palco pelo galã que dirige as operações. Valentin tem nome de Rudolfo, mas filmes de Douglas Fairbanks (aquelas cenas de aventura trepidante, onde só muda o cenário, “A Russian Affair” logo seguido por “A German Affair” são bem uma referência óbvia). Depois há um pouco de tudo como homenagem a grandes clássicos do mudo, mas também do sonoro. Logo a abrir, o grito durante a tortura, é uma evocação de “O Couraçado Potemkine”, mais adiante os eléctrodos lembram “Metropolis”, a luz vinda da janela durante as reuniões remetem para “O Mundo a seus Pés”, bem assim como a sucessão de planos de pequenos almoços que vão assinalando o esmorecer da relação do actor com a mulher, o bailado final recupera outros de Fred Astaire e Ginger Rogers, e por aí fora.
Michel Hazanavicius, o realizador de “O Artista”, é um cinéfilo, um apaixonado pelo cinema e conhece bem os clássicos. Anteriormente, tinha rodado duas paródias aos filmes de espionagem que são muito divertidas e que já utilizavam o mesmo princípio de evocação-homenagem: “Agente 117” (2006) e “OSS 117: Rio ne Répond Plus” (2009), curiosamente com o mesmo protagonista, Jean Dujardin.
Michel Hazanavicius, o realizador de “O Artista”, é um cinéfilo, um apaixonado pelo cinema e conhece bem os clássicos. Anteriormente, tinha rodado duas paródias aos filmes de espionagem que são muito divertidas e que já utilizavam o mesmo princípio de evocação-homenagem: “Agente 117” (2006) e “OSS 117: Rio ne Répond Plus” (2009), curiosamente com o mesmo protagonista, Jean Dujardin.
Ora bem, onde é que esta obra de Hazanavicius me parece mais interessante, ganhando algum relevo? Precisamente na forma como se relaciona com o “mudo”. George Valentin é um actor mudo, o próprio nome diz-nos que deve ser de origem francesa, logo não fala muito bem o inglês (um óbice fatal, quando se passa para o sonoro), mas durante todo o filme ele (ou as suas personagens) recusa falar. Logo no início, o herói por si vivido no ecrã é torturado para falar e “não fala”, depois a mulher (na vida real) deixa-lhe um recado, “Precisamos falar. Por que não falas?”, and so on, and so on.
George Valentin não é homem de palavras, não quer falar, e vai manter-se irredutível. Quando o produtor Al Zimmer (excelente John Goodman), dos Kiograph Studios, lhe diz que o cinema a partir daquela altura tinha som, ele responde, “Fique com os seus filmes sonoros, eu fico com as minhas obras-primas” e, qual Griffith ou Chaplin, roda um novo “mudo”, “Tears of Love”, que irá arruiná-lo por completo. Ele é o “Lonely Star” que vemos anunciado num cinema ao longe, mas irá ter o seu “Guardian Angel”, outro título visível numa sala quando sabemos que Peppy Miller corre em seu auxílio.
Valentin sente os ruídos à sua volta, os copos a tilintar, uma pena a esvoaçar que cai no chão com o barulho de um trovão, e esse som incomoda-o visivelmente. Atormenta-o. Marca a sua queda. A ruína. O incêndio, onde o vemos, qual Citizen Kane, em cima das bobines dos seus velhos filmes que ele destrói, aparentemente dominando a situação, mas na realidade sendo consumido pela decadência inexorável, é igualmente retrato de uma solidão suicida que só não vai avante pelos esforços combinados do seu fiel cão, Uggie, do seu não menos devotado mordomo e motorista, Clifton (magnífico James Cromwell), e da sua apaixonada Peppy Miller.
A única vez que George Valentin fala é no final, para agradecer um cumprimento do produtor, e percebe-se por que foi afastado no “sonoro”: nem a voz é agradável, nem o sotaque é possível. Ele, como muitos outros, será uma vítima das conquistas da tecnologia. O seu tempo de grande vedeta pertence ao passado, a menos que o seu sapateado mereça ser colocado ao lado do de Fred Astaire. Mas este também cantava. O futuro não deixa grande margem para optimismo, apesar do aparente “happy end”.
Grande filme? Não tanto. Mas uma obra que se vê com agrado, num magnífico preto e branco, com uma reconstituição de época notável, e um elenco que merece todos os encómios, onde se destacam o francês Jean Dujardin e a argentina Bérénice Bejo, um belíssimo par romântico, com um ironia fina que se auto parodia com inteligência. Hazanavicius já era um realizador a seguir com atenção. Agora redobradamente.
Valentin sente os ruídos à sua volta, os copos a tilintar, uma pena a esvoaçar que cai no chão com o barulho de um trovão, e esse som incomoda-o visivelmente. Atormenta-o. Marca a sua queda. A ruína. O incêndio, onde o vemos, qual Citizen Kane, em cima das bobines dos seus velhos filmes que ele destrói, aparentemente dominando a situação, mas na realidade sendo consumido pela decadência inexorável, é igualmente retrato de uma solidão suicida que só não vai avante pelos esforços combinados do seu fiel cão, Uggie, do seu não menos devotado mordomo e motorista, Clifton (magnífico James Cromwell), e da sua apaixonada Peppy Miller.
A única vez que George Valentin fala é no final, para agradecer um cumprimento do produtor, e percebe-se por que foi afastado no “sonoro”: nem a voz é agradável, nem o sotaque é possível. Ele, como muitos outros, será uma vítima das conquistas da tecnologia. O seu tempo de grande vedeta pertence ao passado, a menos que o seu sapateado mereça ser colocado ao lado do de Fred Astaire. Mas este também cantava. O futuro não deixa grande margem para optimismo, apesar do aparente “happy end”.
Grande filme? Não tanto. Mas uma obra que se vê com agrado, num magnífico preto e branco, com uma reconstituição de época notável, e um elenco que merece todos os encómios, onde se destacam o francês Jean Dujardin e a argentina Bérénice Bejo, um belíssimo par romântico, com um ironia fina que se auto parodia com inteligência. Hazanavicius já era um realizador a seguir com atenção. Agora redobradamente.

O ARTISTA
Título original: The Artist
Realização: Michel Hazanavicius (França, Bélgica, 2011); Argumento: Michel Hazanavicius; Produção: Jeremy Burdek, Antoine de Cazotte, Daniel Delume, Nadia Khamlichi, Thomas Langmann, Richard Middleton, Emmanuel Montamat, Adrian Politowski, Gilles Waterkeyn; Música: Ludovic Bource; Fotografia (p/b): Guillaume Schiffman; Montagem: Anne-Sophie Bion, Michel Hazanavicius; Casting: Heidi Levitt; Design de produção: Laurence Bennett; Direcção artística: Gregory S. Hooper; Decoração: Austin Buchinsky, Robert Gould; Guarda-roupa: Mark Bridges; Maquilhagem: Cydney Cornell, Julie Hewett; Direcção de Produção: Antoine de Cazotte, Segolene Fleury-Slimane, Varujan Gumusel, Frank Mettre, Christina Lee Storm; Assistentes de realização: James Canal, David Allen Cluck, David Paige, Lou Salomé Piron; Departamento de arte: Martin Charles, Carol Kiefer, Adam Mull; Som: Valeria Ghiran, Nadine Muse; Efeitos especiais: David Waine; Efeitos visuais: Seif Boutella, Amandine Moulinet, Romain Moussel ; Companhias de produção: La Petite Reine, La Classe Américaine, JD Prod, France 3 Cinéma, Jouror Productions, uFilm, Canal+, CinéCinéma, France Télévision, Le Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique; Intérpretes: Jean Dujardin (George Valentin), Bérénice Bejo (Peppy Miller), John Goodman (Al Zimmer), James Cromwell (Clifton), Penelope Ann Miller (Doris), Missi Pyle (Constance), Malcolm McDowell, Beth Grant, Ed Lauter, Joel Murray, Bitsie Tulloch, Ken Davitian, Basil Hoffman, Bill Fagerbakke, Nina Siemaszko, Stephen Mendillo, Dash Pomerantz, Beau Nelson, Alex Holliday, Wiley M. Pickett, Ben Kurland, Katie Nisa, Katie Wallack, Hal Landon Jr., Cleto Augusto, etc. Duração: 100 minutos; Distribuição em Portugal: PepperView Entertainment; Classificação etária: M/ 12 anos; Estreia em Portugal: 2 de Fevereiro de 2012.
Título original: The Artist
Realização: Michel Hazanavicius (França, Bélgica, 2011); Argumento: Michel Hazanavicius; Produção: Jeremy Burdek, Antoine de Cazotte, Daniel Delume, Nadia Khamlichi, Thomas Langmann, Richard Middleton, Emmanuel Montamat, Adrian Politowski, Gilles Waterkeyn; Música: Ludovic Bource; Fotografia (p/b): Guillaume Schiffman; Montagem: Anne-Sophie Bion, Michel Hazanavicius; Casting: Heidi Levitt; Design de produção: Laurence Bennett; Direcção artística: Gregory S. Hooper; Decoração: Austin Buchinsky, Robert Gould; Guarda-roupa: Mark Bridges; Maquilhagem: Cydney Cornell, Julie Hewett; Direcção de Produção: Antoine de Cazotte, Segolene Fleury-Slimane, Varujan Gumusel, Frank Mettre, Christina Lee Storm; Assistentes de realização: James Canal, David Allen Cluck, David Paige, Lou Salomé Piron; Departamento de arte: Martin Charles, Carol Kiefer, Adam Mull; Som: Valeria Ghiran, Nadine Muse; Efeitos especiais: David Waine; Efeitos visuais: Seif Boutella, Amandine Moulinet, Romain Moussel ; Companhias de produção: La Petite Reine, La Classe Américaine, JD Prod, France 3 Cinéma, Jouror Productions, uFilm, Canal+, CinéCinéma, France Télévision, Le Tax Shelter du Gouvernement Fédéral de Belgique; Intérpretes: Jean Dujardin (George Valentin), Bérénice Bejo (Peppy Miller), John Goodman (Al Zimmer), James Cromwell (Clifton), Penelope Ann Miller (Doris), Missi Pyle (Constance), Malcolm McDowell, Beth Grant, Ed Lauter, Joel Murray, Bitsie Tulloch, Ken Davitian, Basil Hoffman, Bill Fagerbakke, Nina Siemaszko, Stephen Mendillo, Dash Pomerantz, Beau Nelson, Alex Holliday, Wiley M. Pickett, Ben Kurland, Katie Nisa, Katie Wallack, Hal Landon Jr., Cleto Augusto, etc. Duração: 100 minutos; Distribuição em Portugal: PepperView Entertainment; Classificação etária: M/ 12 anos; Estreia em Portugal: 2 de Fevereiro de 2012.