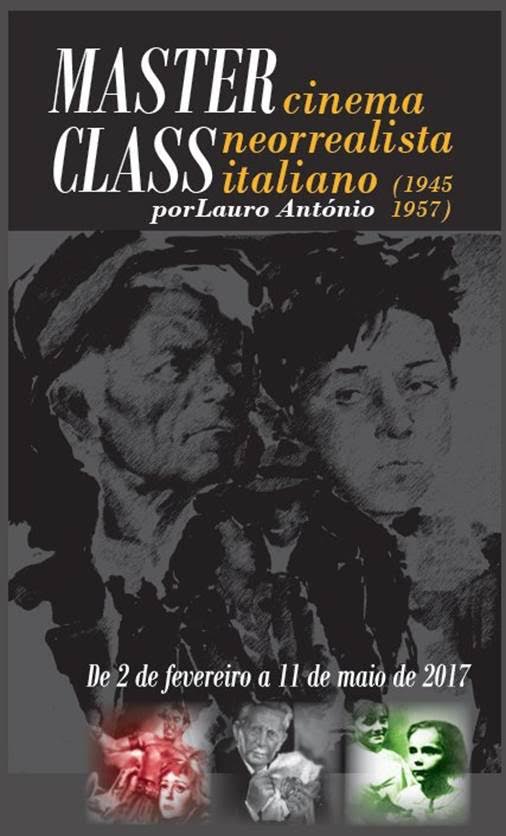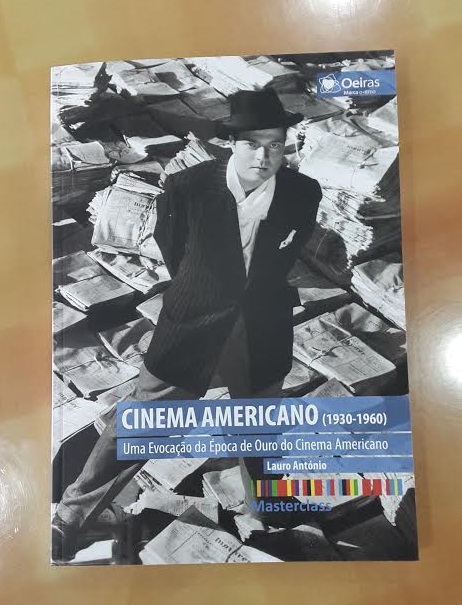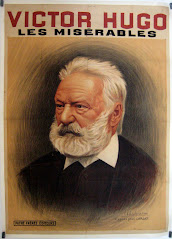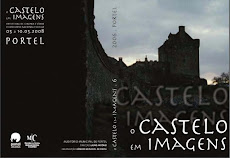O MASCARILHA

Em
boa hora decidiram o realizador Gore Verbinski, o produtor Jerry Bruckheimer e
a Walt Disney erguer uma aventura-paródia que recupera muita da graça e da
desenvoltura do primeiro capítulo das aventuras dos “Piratas das Caraíbas”. Parece
que em termos de resultados de bilheteira o resultado não tem sido brilhante,
mas mais me ajuda este facto. Os tempos não estão para aventuras prazerosas e
divertidas, poucos querem saber da recuperação de clássicos, muito poucos
procuram nestes blockbusters de verão outra coisa que não seja ruído e
pirotecnia os mais gratuitos possíveis. Tudo o que não faça pensar, mas que
sobretudo atordoe e embruteça os sentidos, é bem-vindo. Por isso se compreende
que o mais curioso e divertido blockbuster deste estio seja o que mais prejuízo
esteja a dar (ainda que, em boa verdade, todos estejam a ser um fracasso, na
maioria dos casos merecidíssimo!). Mas “O Mascarilha” é realmente um divertido
e trepidante espectáculo, um entretenimento quase sem mácula (talvez menos uns
minutos de duração o beneficiasse), bem realizado, muito bem interpretado,
magnificamente concretizado ao nível da concepção plástica (cenários,
guarda-roupa, adereços, etc.), tecnicamente impecável (desde a fotografia até
aos efeitos visuais, passando pela partitura musical).
Mas
realmente o mais interessante é a própria concepção do espectáculo, a forma
como recupera a figura de “O Mascarilha”), um herói dos anos 30 que
inicialmente surgiu na rádio, depois passou a banda desenhada, depois a episódios
de televisão e também ao cinema.

Um
pouco mais de detalhe no historial não ficará mal: “The Lone Ranger” teve a sua
aparição pública na Rádio WXYZ, em Detroit, Michigan, EUA, a 30 de Janeiro de
1933. Durou até 3 de Setembro de 1954. Não era vulgar um herói deste tipo
surgir na rádio, inicialmente. Mas foi assim que o criaram George Washington
Trendle e o seu grupo de criativos que entregaram a escrita a Fran Striker (e
depois a Fred Foy, entre 1948 e 1954). The Lone Ranger tem uma tradução difícil,
não da parte de Lone, solitário, mas de Ranger, que era uma polícia especial do
Texas, que se destinava sobretudo ao meio rural. Em Portugal, quando passou a
banda desenhada foi chamado “O Mascarilha”, pois a personagem que cavalgava um
cavalo branco, de nome Silver, e andava sempre associada a um índio, Tonto,
usava sempre uma mascarilha. Era solitário porque no início da história os
vilões malvados tinham exterminado todos os outros rangers, restando apenas um
que usava mascarilha precisamente para que não o reconhecessem como
sobrevivente do massacre. No seu conjunto, era uma figura muito semelhante “Zorro”,
mas as diferenças são acentuadas. Desde logo Zorro era um aristocrata da
Califórnia, de origem sul-americana, dado o seu verdadeiro nome, Dom Diego de
la Veja. O “Mascarilha” não tinha ascendência tão prestigiante.
The
Lone Ranger não era tão “lone” assim, pois andava sempre acompanhado por um índio,
Tonto, seu fiel camarada de aventuras, que o herói havia um dia salvado in
extremis. Nalgumas aventuras tinha como aliado um sobrinho, Daniel Reid, que no
filme de Gore Verbinski foi substituído por um irmão, Dan Reid.

Depois
da rádio, surgiu a banda desenhada. Primeiramente como tira de jornal, lançada
pelo King Features Syndicate, distribuidor norte-americano de “histórias aos
quadradinhos” pelos jornais, o que aconteceu entre 1938 e 1971. Inicialmente concebido
por Ed Kressy, foi substituído em 1939 por Charles Flanders, que se manteve até
o final. Em 1981, existiu outra banda desenhada, esta escrita por Cary Bates e
desenhada por Russ Heath, que se estendeu até 1984. Em 1948, a Dell Comics
lançou as aventuras em revista, com 145 edições, com reproduções dos jornais, ao
lado de produção inédita. De 1962 a 1977, a Gold Key Comics continuaria com as
revistas, até 1977. Tonto também teve sua revista própria, em 1951, com 31
edições, assim como o cavalo Silver, lançado em 1952, com 34 edições. Em 2010,
a Dynamite Entertainment anunciou um “crossover” onde o Mascarilha se cruzava
com o verdadeiro Zorro. A história chamava-se “The Lone Ranger: The Death of
Zorro”.
No
cinema, The Lone Ranger surgiu em 1938, uma produção da Republic Pictures, um
serial de 15 jornadas, com realização de William Witney e John English, e
interpretado por Lee Powell, no principal papel e o Chefe Thundercloud como Tonto.
Curiosamente, estes filmes em episódios eram interpretados por cinco Texas
Rangers e os espectadores só muito mais tarde descobriram qual era o mascarilha.
Os cinco eram George Lentz (George Montgomery), Lane Chandler, Hal Taliaferro,
Herman Brix (Bruce Bennett) e Lee Powell, que só no final seria revelado ser o
verdadeiro herói. Em 1939, foi realizada uma continuação, “The Lone Ranger
Rides Again”, desta feita com Robert Livingston no papel de Lone Ranger, ao
lado do mesmo Chefe Thundercloud como Tonto, Duncan Renaldo e Jinx Falken.

Houve
outras tentativas: Clayton Moore e Jay Silverheels interpretaram “The Lone
Ranger”, em 1956, sob direção de Stuart Heisler, e “The Lone Ranger and the
Lost City of Gold”, em 1958, com realização de Lesley Selande. Em 1981, nova
tentativa de relançar o herói, com “The Legend of the Lone Ranger”, uma realização
fracassada de William A. Fraker, com Klinton Spilsbury, Michael Horse e Christopher
Lloyd. “The Lone Ranger” (2003) foi uma tentativa de telefilme, com assinatura
de Jack Bender, tendo no elenco Chad Michael Murray, Nathaniel Arcand e Anita
Brown, que voltaria a não interessar o público.

E
chega de história. De 2013 é esta versão de Gore Verbinski, que se inica em
1933, em São Francisco, quando um miúdo visita uma barraca de feira, onde se
encontram algumas reproduções do wild west. Entre elas, um modelo de Tonto,
velho e ressequido, que subitamente se anima e começa a contar as suas
aventurtas ao lado do Mascarilha. Muito à maneira de “O Pequeno Grande Homem”. Mas
não se pense que esta referência é única. Nada disso. Os argumentistas (Justin
Haythe, Ted Elliott e Terry Rossio) são cinéfilos encartados e admiradores de
westerns clássicos, e desde “O Homem que Matou Liberty Valance” a “As Portas do
Paraíso”, de “Cavalo de Ferro” a “A Desaparecida”, não páram de sugerir
recordações. Claro que esta referência a obras-primas pode deixar “O Mascarilha”
distante. É verdade. Mas o facto de os ter como originais a relembrar é bom
sinal, tanto mais que as citações não são apenas para encher o olho. O que se
faz é um trabalho de absorção, de assimilação, mas como paródia, como irónica menção.
O resultado é quase sempre bastante bom. Depois, isso permite passar por todos
os estereótipos do género, desde o comboio a alta velocidade, as pontes e as
minas, os índios, os brancos, os negros, os chineses, as grandes planícies, o
Grand Kenyon, as paisagens de John Ford, os desfiladeiros traiçoeiros, os
cavalos, as pistolas, os vilões, os agentes da lei que gostam de fazer justiça
pelas próprias mãos e o advogado que acredita na nova ordem e na justiça
institucionalizada. Enfim, há de tudo para todos os gostos e bem condimentado,
com ritmo, mas sem histeria estereofónica, com momentos de repouso do guerreiro
(e do espectador), contemplativos quase, onde é permitido aos actores representarem,
gozarem o prazer da paródia, do olhar, do gesto.

Uma
obra-prima? Não, certamente. Mas um daqueles filmes de puro entretenimento que
sabe bem disfrutar. Com bons actores (Johnny Depp é excelente numa composição
como ele gosta, e que me atrevo a dizer, como só ele sabe impor sem cair no ridículo).
Seria
uma enorme injustiça votar este filme ao ostracismo. Se os críticos portugueses
(quase todos) não gostam deste tipo de cinema, é lá com eles. Mas os
espectadores não devem perder esta lufada de ar fresco.
O
MASCARILHA
Título
original: The Lone Ranger
Realização: Gore Verbinski
(EUA, 2013); Argumento: Justin Haythe, Ted Elliott, Terry Rossio; Produção:
Jerry Bruckheimer, Johnny Depp, Eric Ellenbogen, Ted Elliott, Eric McLeod, Chad
Oman, Terry Rossio, Mike Stenson, Gore Verbinski; Música: Hans Zimmer; Fotografia
(cor): Bojan Bazelli; Montagem: James Haygood, Craig Wood; Casting: Denise
Chamian; Design de produção: Jess Gonchor; Direcção artística: Jon Billington,
Naaman Marshall, Iain McFadyen, Brad Ricker, Domenic Silvestri; Decoração:
Cheryl Carasik; Guarda-roupa: Penny Rose; Maquilhagem: Gloria Pasqua Casny,
Joel Harlow; Direcção de produção: Thomas Hayslip, Mark Indig, Todd London,
Jason Pomerantz; Assistentes de realização: Charles Gibson, David Kelley, Simon
Warnock; Departamento de arte: Marisa Frantz, Ricardo Guillermo, Scott
Herbertson, Jim Hewitt, Jonas Kirk, Greg Papalia, Sara M. Pennington, Siobhan
Roome; Som: Christopher Boyes, Gary Rydstrom; Efeitos especiais: John Frazier;
Efeitos visuais: Christopher Blasko, Gary Brozenich, Rachel Galbraith, Jack
George, James Greig, Clayton Lyons, Ale Melendez, Sara Moore, Meghan O'Brien, Allison
Paul, Holly Price, DeAndra Stone, Mark Van Ee; Companhias de produção: Walt
Disney Picture, Jerry Bruckheimer Films, Blind Wink Productions, Classic Media,
Infinitum Nihil, Silver Bullet Productions; Intérpretes: Johnny Depp (Tonto), Armie Hammer (John Reid (Lone
Ranger), William Fichtner (Butch Cavendish), Tom Wilkinson (Cole), Ruth Wilson
(Rebecca Reid), Helena Bonham Carter (Red Harrington), James Badge Dale (Dan
Reid), Bryant Prince (Danny), Barry Pepper (Fuller), Mason Cook, JD Cullum,
Saginaw Grant, Harry Treadaway, James Frain, Joaquín Cosio, Damon Herriman,
Matt O'Leary, W. Earl Brown, Timothy V. Murphy, Gil Birmingham, Damon Carney,
Kevin Wiggins, Chad Brummett, Robert Baker, Lew Temple, Joseph E. Foy, etc. Duração: 149 minutos; Distribuição em
Portugal: Zon Audiovisuais; Classificação etária: M/ 12 anos; Data de estreia
em Portugal: 8 de Agosto de 2013.