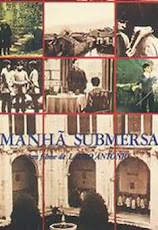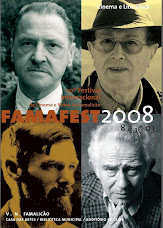quinta-feira, maio 30, 2013
CINEMA: O GRANDE GATSBY
domingo, maio 19, 2013
COMO UM MAU FILME AMERICANO
Lisboa, 17 de Maio de 2013
quinta-feira, agosto 13, 2009
SHERLOCK HOLMES, 1
Já não sei quantas vezes li e reli todos os livros do Conan Doyle, sobre Sherlock Holmes. Contos, novelas e romances. Desde a adolescência. Numa colecção que ainda guardo. Depois já comprei outras colecções, até um volume inglês que reproduz textualmente a revista onde inicialmente foram editados (com desenhos originais e tudo, uma preciosidade, que só folheio, e leio aqui e ali, o meu inglês não é o meu forte!, já sabem, não é?).
Agora, o DN, publica e distribui grátis, a quem comprar o jornal das terças, quintas e domingos, doze pequenos volumes com as aventuras de Sherlock Holmes e do seu amigo Dr. Watson, todos assinados por Sir Arthur Conan Doyle. As edições são muito bonitas, eu não resisto e ando a reler tudo. De novo. Convido-vos a darem uma espreitadela. Depois de Edgar Allan Poe, que “inventou” o romance policial, Conan Doyle deu-lhe carta de cidadania e um herói inesquecível. É uma leitura fascinante, que os mais velhos e os assim-assim não esquecem, mas que julgo que os mais novos irão apreciar e “descobrir” com um gosto redobrado.
É publicidade gratuita a minha: não percam estas preciosidades às terças, quintas e domingos.
segunda-feira, junho 15, 2009
ROMANCE, FILME: SEDA
 SEDA, DO LIVRO AO FILME
SEDA, DO LIVRO AO FILME 
Alessandro Baricco é italiano, nascido há 51 anos, em Turim. Autor premiado, viajado, multifacetado (teatro, contos, romance, cinema, televisão, programas sobre opera, sobre literatura, colaboração com os Air, na área da música electrónica, etc.), tornou-se mundialmente conhecido com o seu pequeno romance “Seda”.
 São 120 páginas na tradução portuguesa, de escrita sintética, mas poética, elegante e simbólica, a escrita escorre, com um número restrito de palavras, o que não implica menos densidade ou profundidade de análise, mas sim uma utilização criteriosa da palavra e da frase. Curta. Dos capítulos, curtos. Digamos que Alessandro Baricco escolheu a seda como tema e procurou na escrita uma estética que a relembrasse, macia e escorregadia, fina e sensual, muito colada ao corpo de uma história de amor algo invulgar.
São 120 páginas na tradução portuguesa, de escrita sintética, mas poética, elegante e simbólica, a escrita escorre, com um número restrito de palavras, o que não implica menos densidade ou profundidade de análise, mas sim uma utilização criteriosa da palavra e da frase. Curta. Dos capítulos, curtos. Digamos que Alessandro Baricco escolheu a seda como tema e procurou na escrita uma estética que a relembrasse, macia e escorregadia, fina e sensual, muito colada ao corpo de uma história de amor algo invulgar.  Primeiro capitulo:
Primeiro capitulo:“Embora o seu pai tivesse imaginado para ele um brilhante futuro no exército, Hervé Joncour acabara por ganhar a vida com um ofício insólito, ao qual não era estranho, por singular ironia, um jeito tão amável ao ponto de revelar uma vaga entonação feminina.
Para viver, Hervé Joncour comprava e vendia bichos-da-seda.
Corria o ano de 1861. Flaubert escrevia "Salammbô", a iluminação eléctrica ainda não passava de uma hipótese, e Abraham Lincoln, do outro lado do oceano, combatia uma guerra da qual nunca chegaria a ver o fim.
Hervé Joncour tinha trinta e dois anos.
Comprava e vendia.
Bichos-da-seda.”
Este o estilo.
 Estamos na segunda metade do século XIX, em França, na pequena cidade de Lavilledieu, que tem boa parte da sua economia dependendo das fábricas de seda. Durante alguns anos os ovos do bicho da seda eram procurados no norte de África, mas uma epidemia levou Baldabiou, o cérebro deste boom da seda na cidade, a procurar outras fontes de importação, o Japão, por exemplo, por essa altura um país fechado aos estrangeiros. Baldabiou convence então Hervé Joncour a deslocar-se “até ao fim do mundo” para comprar milhares de minúsculos ovos donde brotaria, meses depois, a riqueza da sua terra.
Estamos na segunda metade do século XIX, em França, na pequena cidade de Lavilledieu, que tem boa parte da sua economia dependendo das fábricas de seda. Durante alguns anos os ovos do bicho da seda eram procurados no norte de África, mas uma epidemia levou Baldabiou, o cérebro deste boom da seda na cidade, a procurar outras fontes de importação, o Japão, por exemplo, por essa altura um país fechado aos estrangeiros. Baldabiou convence então Hervé Joncour a deslocar-se “até ao fim do mundo” para comprar milhares de minúsculos ovos donde brotaria, meses depois, a riqueza da sua terra.“- E onde fica, precisamente, esse Japão?
Baldabiou levantou a cana da sua bengala, apontando-a para além dos telhados de Saint-August.
- Sempre naquela direcção.
Disse.
- Até o fim do mundo".
Faz assim ele a viagem de França até ao Japão, passando por mil terras e perigos e descobrindo diferenças e indivíduos inesquecíveis. Entre estes, um negociante japonês de nome Hara Kei, e uma jovem. Leia-se a descrição:
"Hara Kei estava sentado de pernas cruzadas, no chão, no canto mais afastado da sala. Vestia uma túnica escura, não trazia jóias. Único sinal visível de seu poder, uma mulher deitada a seu lado, imóvel, a cabeça apoiada em seu regaço, os olhos fechados, os braços escondidos pelo amplo vestido vermelho, que se alargava a toda a volta, como uma chama, na esteira cor da cinza. Ele passava-lhe lentamente uma mão pelo cabelo: parecia acariciar o pêlo de um animal precioso, e adormecido.”
 Um mundo desconhecido, estranho, misterioso, fascinante. Apaixonante. Os olhos daquela mulher menina ainda não mais o vão largar. Quatro viagens faz ao Japão, a última das quais para surpreender a brutalidade da guerra que tudo destrói:
Um mundo desconhecido, estranho, misterioso, fascinante. Apaixonante. Os olhos daquela mulher menina ainda não mais o vão largar. Quatro viagens faz ao Japão, a última das quais para surpreender a brutalidade da guerra que tudo destrói:"Hervé Joncour ficou imóvel, olhando para aquele enorme braseiro apagado. Tinha atrás de si uma estrada de oito mil quilómetros. E à sua frente o nada. De repente viu aquilo que julgava invisível. O fim do mundo.”
E para perder para sempre o rasto da rapariguinha que “tinha uns olhos que não possuíam o corte oriental”, que ninguém sabe se realmente existiu, ou se não passou de um sonho ou um pesadelo de viajante. "A última coisa que viu, antes de sair, foram os olhos dela, fixos nos seus, perfeitamente mudos" No regresso, sempre o aconchego o amor da mulher, Hélène.
 Romance sugestivo, que remete para a imaginação do leitor, mas que, mal o acabei de ler, temi por uma adaptação ao cinema demasiado convencional, transformando o lirismo da obra num rodriguinho fácil, acentuando o lado sensual de algumas descrições pela exibição de cenas eróticas mais ou menos visíveis, e, em contraponto, anulando a violência sexual das evocações da carta que encerra o mistério derradeiro do livro.
Romance sugestivo, que remete para a imaginação do leitor, mas que, mal o acabei de ler, temi por uma adaptação ao cinema demasiado convencional, transformando o lirismo da obra num rodriguinho fácil, acentuando o lado sensual de algumas descrições pela exibição de cenas eróticas mais ou menos visíveis, e, em contraponto, anulando a violência sexual das evocações da carta que encerra o mistério derradeiro do livro.Tudo isso aconteceu na adaptação de François Girard que, conjuntamente com o próprio escritor e Michael Golding, escreveu o argumento e dirigiu a obra. François Girard tinha anteriormente assinado uma curiosa série de documentários, “32 Curtas-metragens sobre Glenn Gould”, e ainda “Peter Gabriel: Secret World Live”, além de “Le Violon Rouge” (1998), única ficção que tinha chamado a atenção para o seu nome. “Seda” (Silk), é de 2007. É obra bonitinha, decorativa, com actores aceitáveis, Alfredo Molina (Baldabiou), muito bom, Keira Knightley (Hélène Joncour), muito bonita, Michael Pitt (Hervé Joncour), muito insípido, Kôji Yakusho (Hara Jubei), muito japonês. Mas falta-lhe muito para se acercar do romance. Falta-lhe o talento de elidir, com um forte apelo à imaginação do leitor, o que o romance consegue. Falta-lhe delicadeza na abordagem das cenas sensuais, que se ficam pelo exterior delambido. Falta-lhe coragem nas descrições da carta, que se corta de toda a sugestão mais intempestiva, o que o romance faz de forma exemplar, impondo uma ruptura nas derradeiras páginas. Fica-lhe uma história curiosa, mas a que falta ressonância mágica e poética.
Ou de como alguns romances são de difícil adaptação ao cinema (no livro o estilo é essencial para o resultado final). Ou de como muitas vezes se falha quando se julga ter seguido à risca as peripécias, mas se esqueceu o essencial.

SEDA
Título original: Silk ou Seta ou Soie
Realização: François Girard (Canadá, França, Itália, Inglaterra, Japão, 2007); Argumento: François Girard, Michael Golding, Alessandro Baricco, segundo romance deste último; Produção: Jonathan Debin, Niv Fichman, Cam Galano, Akira Ishii, Masaru Koibuchi, Gianluca Leurini, Nadine Luque, Sheena Macdonald, Jacques Méthé, Sahar Nasser, Domenico Procacci, Rami Rabei, Sonoko Sakai, Yasushi Shiina, Barbara Willis Sweete, Patrice Theroux, Larry Weinstein, Tom Yoda, Alessandro Baricco, François Girard; Música: Ryuichi Sakamoto; Fotografia (cor): Alain Dostie; Montagem: Pia Di Ciaula; Casting: Susie Figgis; Design de produção: François Séguin; Guarda-roupa: Kazuko Kurosawa, Carlo Poggioli; Maquilhagem: Miho Anraku, Carlo Barucci, Francesca De Simone, Raffaella Iorio, Veronika Kostrhounova, Mario Michisanti, Miyoko Sakurai, Mitsue Sato, Tsutomu Sugawara, Mariko Tanaka, Hayato Toyama; Direcção de Produção: Caterina Caratilli, Shuji Hosoya, Kyoko Kageyama, Roberto Leone, Valeria Licurgo, Tsutomu Sakurai; Assistentes de realização: Tetsuo Funabashi, Mario Janelle, Takayuki Kawatsu, Ed Licht, Shinya Masuda, Fumio Nomoto, Luigi Spoletini, Alessandro Trapani; Som: Claude Beaugrand, Olivier Calvert, Claude La Haye, Hans Peter Strobl; Efeitos especiais: Shûichi Kishiura, Giancarlo Mancini, Guillaume Murray; Efeitos visuais: Stéphane Landry; Companhias de produção: Rhombus Media, Fandango, Bee Vine Pictures, Asmik Ace Entertainment, Astral Media, Canadian Television Fund, Harold Greenberg Fund, IFF/CINV, Medusa Film, Movie Central Network, The Movie Network, Odeon Films, Productions Soie, T.Y., Téléfilm Canada, Vice Versa Film, The Works Media Group; Intérpretes: Michael Pitt (Hervé Joncour), Keira Knightley (Hélène Joncour), Alfred Molina (Baldabiou), Kôji Yakusho (Hara Jubei), Sei Ashina (Rapariga), Tony Vogel, Toni Bertorelli, Kenneth Welsh, Martha Burns, Michael Golding, Carlo Cecchi, Chiara Stampone, Marc Fiorini, Leslie Csuth, Toru Tezuka, Hiroya Morita, Akinori Ando, Jun Kunimura, Kanata Hongô, Dimitri Carella, Dominick Carella, Callum Keith Rennie, Naoko Watanabe, Honjo Hidetaro, Nana Nagao, Saki Aoi, Hiroshi Ohguchi, Michio Akahane, Yuya Takagawa, Taro Suwa, Katy Louise Saunders, Miki Nakatani, Max Malatesta, Joel Adams, Luca De Bei, Ed Licht, Domenico Procacci, Nicola Tovaglione, Francesco Carnelutti, Mark Rendall, Maddalena Maggi, Makoto Inamiya, Makoto Matsubara, Yuki Kawanishi, Hidenori Shimizu, Hiroki Takano, etc. Duração: 107 minutos; Distribuição em Portugal: Prisvideo Filmes; Classificação etária: M/ 12 anos; Estreia em Portugal: 28 de Fevereiro de 2008.
quarta-feira, abril 01, 2009
CLARICE LISPECTOR EM ENCONTRO

 PROGRAMA
PROGRAMA9h30: Recepção
10h00: Abertura
10h30: Conferência: “Clarice Lispector: da biografia à fotobiografia”
Profª Nádia Battella Gotlib – Universidade de São Paulo –USP
11h15: Debate
11h30: Conferência: “Clarice Revisitada
Profº Carlos Mendes de Sousa – Universidade do Minho
12h15: Debate
12h30: Abertura da Exposição de Fotografias de Clarice e Lançamento do
Livro: “Clarice: Fotobiografia”, de autoria da Profª Nádia Battella
Gotlib
13h30: Pausa para almoço
15h00: Conferência: “Com uma fixidez reverberada de cego: visão e
distorção em Clarice Lispector”
Profª Clara Rowland – Universidade de Lisboa
16h15: Debate
16h30: Conferência: “Impossível Explicar”
Francisco José Viegas – Jornalista e Escritor
17h15: Debate
18h00: Peça Teatral: “Que mistérios tem Clarice” , Rita Elmôr
 2 de Abril
2 de Abril10h00: Leitores de Clarice:
Maria Antónia Fiadeiro
Ana Paula Tavares
Patrícia Lino
Depoimento de Paulo Gurgel Valente por Lauro Moreira
11h00: Debate
11h15: Pausa para café
11h30: Leituras de Clarice:
Inês Pedrosa
Cristina Elias
Vasco Durão
Lauro Moreira
13h00: Pausa para almoço
14h30: Palestra: “Clarice no Cinema”, cineasta Lauro António
15h00: Exibição de curta-metragens extraídos da obra de Clarice Lispector
16h00: Pausa para café
16h15: CINEMA: Exibição de “A hora da Estrela”, de Suzana Amaral
18h00: Encerramento

sexta-feira, janeiro 09, 2009
LIVROS: O HÓSPEDE



 O HÓSPEDE
O HÓSPEDE
Mr. e Mrs. Bunting tinham dificuldades na vida até à chegada de Mr. Sleuth, um bem apessoado gentleman, que só lê a Bíblia, vive retirado no seu quarto durante o dia, e dá problemáticas e intrigantes escapadas durante a noite. As libras começam a correr naquela casa, enquanto nas ruas pobres e mal iluminadas de Londres corre o sangue. A esmerada educação e placidez de que dá sobejas provas Mr. Sleuth, ao mesmo tempo que o tornam simpático, fazem dele uma personagem assustadora, sobretudo sabendo-se que, lá fora, na noite, os surtos de um cavalheiro bem vestido, com uma mala ou um embrulho na mão, não dão tréguas a mulheres perdidas que se encontram barbaramente assassinadas pelas vielas e becos mais desertos.
Ellen Bunting, que de parva não tem nada, mas viu entrar pela porta dentro uma mina de libras e não a quer delapidar, pressente o perigo, mas acha que denunciar não é da sua competência. Vai de íntima desculpa em secreta desculpa, até a realidade se afirmar na sua frente. Numa altura em que Daisy, a filha de um antigo casamento de Mr. Bunting se instala lá em casa e anuncia noivado com o detective Joe, da Scotland Yard, que não deixa de visitar a casa sob qualquer pretexto, sem no entanto farejar nada de estranho. Tudo tão obvio e afinal tão longe de o ser.
Entretanto lá fora, pela manhã, ou ao cair da noite, as noticias dos jornais sensacionalistas, não deixam de atordoar a cabeça do velho casal, com a progressão imparável de novos crimes gritados a plenos pulmões.
 Entre a pacifica existência do “dentro de casa”, e a assustadora realidade do “lá fora”, se prolonga a escrita engenhosa na sua estrutura dramática, elegante, precisa, envolvente, misteriosa de Marie Belloc Lowndes, uma escritora inglesa de policiais (e outros romances mais) que Portugal não conhecia (apesar de muita da sua família viver em Portugal) e que a editora Quidnovi agora lançou (em boa hora). Trata-se de um belíssimo policial, que está na origem de diversas adaptações cinematográficas (entre as quais uma de Alfred Hitchcock, de 1927, “The Lodger, a Story of the London Fog”, que quero agora muito rever, bem como algumas outras versões de que mais tarde darei conta).
Entre a pacifica existência do “dentro de casa”, e a assustadora realidade do “lá fora”, se prolonga a escrita engenhosa na sua estrutura dramática, elegante, precisa, envolvente, misteriosa de Marie Belloc Lowndes, uma escritora inglesa de policiais (e outros romances mais) que Portugal não conhecia (apesar de muita da sua família viver em Portugal) e que a editora Quidnovi agora lançou (em boa hora). Trata-se de um belíssimo policial, que está na origem de diversas adaptações cinematográficas (entre as quais uma de Alfred Hitchcock, de 1927, “The Lodger, a Story of the London Fog”, que quero agora muito rever, bem como algumas outras versões de que mais tarde darei conta). 
segunda-feira, dezembro 08, 2008
LIVROS RECOMENDÁVEIS

OS MAL-AMADOS

Recentemente saído, “Os Mal-Amados”, de Fernando Dacosta, é uma espécie de segunda versão, refundida e recriada, acrescida e retemperada, de uma outra obra do autor, “Nascido no Estado Novo”. Dividida em cinco partes, começa na Primavera (da marcelista ao 25 de Abril de 1974), passando pelo Verão (quente!), pelo Estio (de Sá Carneiro às aparições de Fátima), pelo Inverno ( da guerra das colónias) acabando no Outono (do nosso descontentamento, nalguns casos). Partindo de aproximações e análises muito pessoais (e vividas) de contactos com alguns dos mitos maiores do nosso País, nos últimos 50 anos, Dacosta recorda Salazar e Cunhal, Marcelo Caetano e Mário Soares, Amália Rodrigues e Natália Correia, Agostinho da Silva e Saramago, a Irmã Lúcia e Snu Abecassis, e muitos e muitos outros nomes que fizeram a grande e a pequena história do Portugal contemporâneo. Isto por si só seria muito, mas há muito mais, há o que faz a diferença em Dacosta: uma escrita elegante e viva, inebriante de cor e de riqueza emocional, pejada de anotações e citações autênticas recolhidas das bocas dos visados, todos eles olhados com respeito e por vezes com alguma admiração, mesmo quando não estimados pelo autor (Salazar é um caso típico, já assim tratado em “As Máscaras de Salazar”, esse magnífico best seller da literatura portuguesa mais recente). Jornalista por profissão, mas ficcionista por temperamento, Dacosta mescla com extraordinária mestria a realidade dos factos com a névoa da memória emotiva e oferece-nos uma belíssima panorâmica desta terra madrasta e maravilhosa onde se erguem na glória e se afundam no desespero tantos e tantos vultos e tantos e tantos heróicos anónimos que fizeram e fazem a nossa gesta. Indispensável para reconforto da alma e para nos conhecermos um pouco melhor a nós próprios. (Ed. Casa das Artes, 2008).

DIÁRIO DE UM VELHO LOUCO

Excelente é “Diário de Um Velho Louco”, de um autor japonês que não conhecia, Junichiro Tanizaki (Ed. Relógio d' Água, 2008). Trata-se de um romance curto, mas extremamente denso, escrito como diário de um homem de 77 anos, que sente a decrepitude do corpo a instalar-se e a morte a rondar, mas que não deixa de experimentar ainda sinais de uma sexualidade intensa, que extravasa em jogos algo perversos com a nora Satsuko, antiga bailarina que casou com o filho de Utsugi, e mantém com a complacência do velho um caso amoroso extra conjugal e ainda exercita uma excitante sedução, algo sado-masoquista como o sogro. Entre o diário de um doente, atreito a maleitas várias, atafulhado de remédios que vai enumerando e explicando, e as confissões de um libertino amoral que chegou a uma idade em que não tem de dar justificações a ninguém, e gosta de espiar o banho da nora e de lhe beijar os pés, “Diário de Um Velho Louco” é uma obra surpreendentemente melancólica e irónica, por vezes enraivecida contra o destino, outras vezes complacente com a ordem das coisas, e sempre filosófico quanto à condição humana.
Recolho da Wikipedia, alguns dados sobre o autor. Junichiro Tanizaki nasceu a 24 de Julho de 1886 e veio a falecer, com 79 anos, a 30 de Julho de 1965. É considerado um dos maiores autores da literatura japonesa moderna, ao lado de Kawabata, por exemplo, e é o mais popular romancista japonês depois de Natsume Soseki. Inicialmente sofreu muito a influências de Edgar Allan Poe, e de outros ocidentais que traduziu (Stendhal e Oscar Wilde, por exemplo). Participava de uma escola literária, “Tanbiha”, que valorizava a “arte e beleza acima de tudo”, contra um certo objectivismo da época.
Em 1923, um forte terramoto destruiu-lhe a casa, forçando-o a mudar-se para Ashiya, na região de Kyoto e Osaka, que lhe forneceu cenários para o seu romance “As Irmãs Makioka”. Principais obras: “Amor insensato” (1924), “Voragem” (1928), “Há quem prefira Urtigas” (1930), “A Chave” (1956), e este “Diário de um Velho Louco” (1965).

MARCADO PARA MORRER

Policiais bons são raros, apesar da muita (da excessiva) edição. “Marcado para Morrer”, de John Dunning (Ed. Estampa, 2008), é uma boa surpresa. Cliff Janeway, um detective bibliógrafo, descobre assassinado um “rato de bibliotecas”. Com base nesse macabro achado principia uma investigação, inicialmente nos quadros da polícia, depois por conta própria. Não há muito a inventar nestes casos. O mais interessante começa mesmo a ser o acidental: neste pormenor, o mundo dos livros, o negócio das primeiras edições, o comércio das encadernações intactas, o polícia que gosta de livros (um caso que começa a tornar-se vulgar, veja o brasileiro Spinosa, de Garcia Roza, ou o cubano Mário Conde, de Leonardo Padura, que são apenas dois exemplos). Mas o livro é escrito com vivacidade, consegue prender o leitor, tanto com a investigação do crime, como com os pormenores de um bibliógrafo obsessivo. De resto, o esquema recupera o policial à moda antiga, lembrando Hammet, entre outros.
John Dunning nasceu a 9 de Janeiro de 1942, em Brooklyn, NY. Infância atormentada por doenças. Denver tornou-se a cidade de Dunning, onde começou por se estabelecer como livreiro. Depois veio a literatura, curtos contos, finalmente o romance. Policial. Premiado e com uma larguíssima margens de leitores em todo o mundo. Apaixonado pela rádio escreveu “The Ultimate Encyclopedia of Old-Time Radio” (1976) e depois “On The Air” (1998). Com o mesmo detective, Cliff Janeway,e depois de “Booked to Die”, já apareceram dois novos volumes: “The Bookman's Wake” (1995) e “The Bookman's Promise” (2004). Sempre com crimes e livros às voltas. Acredite que é um bom conselho.

O PORTUGUÊS QUE NOS PARIU

Já me tinham falado neste livro há algum tempo, tanto em Portugal, como no Brasil. Sempre entusiasticamente. Resolvi lê-lo agora e foi uma agradável surpresa (ou confirmação do que me haviam dito): uma escrita divertida, irónica, crítica, leve, abordando a história de Portugal de um ponto de vista brasileiro, com alguma sátira à mistura, mas com uma enternecedora compreensão (e alguma admiração) para com a nossa História. A individual e a conjunta. Terá aqui e ali um erro de perspectiva histórica, mas de um modo geral é muito interessante, e não justifica de forma nenhuma alguma animosidade de certos portugueses que só lêem os títulos e se sentem logo ofendidos.
“O Português Que Nos Pariu”, de Ângela Dutra de Menezes (Ed. Livraria Civilização Editora - Porto, 2007) lê-se de um fôlego e acredito que seja um bom elo de ligação entre dois povos com tanto em comum.


Sherlock Homles nasceu da imaginação de Conan Doyle e da sua escrita, mas não morre. Cada ano que passa parece que a sua áurea aumenta e o seu mito se agiganta. São às dezenas as obras que se escrevem ultimamente tendo por base este detective privado que viveu nos anos vitorianos e prolonga a sua existência em todos os sentidos. Já aqui dei conta da leitura de alguns romances recentes que tinham Sherlock Holmes ou Conan Doyle como personagens centrais (por exemplo, “Arthur & George”, de Julian Barnes). Li agora “Sherlock Holmes,uma biografia não autorizada”, de Nick Rennison, que é um projecto fascinante, excelentemente concretizado. A ideia é sedutora desde início: Sherlock Holmes existiu na realidade. Viveu e exerceu a sua profissão em Inglaterra, sob o reinado da Rainha Vitória. Watson (o Caro Watson, companheiro omnipresente de Sherlock Holmes), vai registando os factos e as investigações e entrega a os relatórios a Arthur Conan Doyle que os redige e os faz publicar. Conan Doyle, porém, a determinada altura, sente-se inclinado a decidir que Holmes não passava de uma invenção sua. A coisa tem tal grau de plausibilidade que o leitor quase se chega a convencer disso.
Partindo das informações recolhidas nos vários romance de Conan Doyle, que têm como protagonista Sherlock Holmes, o autor vai reconstituir a existência “real” desse alguém que chega a ter mais personalidade e imposição existencial que muitas pessoas. Obviamente que nem tudo corresponde ao já escrito nos romances de Conan Doyle. Nick Rennison preenche com a sua imaginação e o rigor de uma pesquisa histórica indesmentível as lacunas ma biografia do célebre detective. Mas o resultado é fascinante e lê-se com apetite voraz. Um bom romance, dos melhores que conheço sobre a matéria. (Ed. Esfera do Caos, 2008).
ANTÓNIO ALÇADA BAPTISTA
 ANTÓNIO ALÇADA BAPTISTA
ANTÓNIO ALÇADA BAPTISTA(1927-2008)
Escrevi sobre esse romance uma prosa que, infelizmente, não retenho, mas vasculhando nos recortes de “A Capital”, onde eu tive durante anos um secção a que chamei “Sessões Continuas”, descubro uma recensão a uma outra novela sua. Aqui a reproduzo como homenagem a um homem bom, de gesto afável, de palavra sensível, óptimo companheiro de tertúlias, amante da liberdade e da justiça. Amante da “Mulher” igualmente, o que só lhe ficava bem.
“CATARINA OU O SABOR DA MAÇÔ,
(...) Já de seguida, uma novela portuguesa, de António Alçada Baptista, o mesmo que surpreendera com “Os Nós e Os Laços” e que regressa com “Catarina ou o Sabor da Maçã” um novo capítulo a acrescentar aos seus «Nós» e aos seus «Laços».
António Alçada Baptista pertence a uma geração, e a um grupo que, quando eu andava na faculdade e se começou a publicar “O Tempo e o Modo”, era conhecida por “católicos progressistas”. Havia os que os compreendiam e os que, ironicamente, lhes chamavam “os católicos que descobriram o sexo”. “O Tempo” foi passando e “O Modo” foi-se mantendo: Alçada Baptista foi publicando as suas obras, quase sempre confessionais, mesmo quando políticas e polémicas, como “As Peregrinações Interiores” ou os “diálogos com Marcelo Caetano”.
As “peregrinações interiores” continuam com “Os Nós e os Laços” ou este “Catarina”. Escrito na primeira pessoa do singular, com o autor fazendo-se passar pelo personagem, esta novela de quase cem páginas, a meio caminho entre o memoralismo e o moralismo moderno, desenvolto, pudico e elegante, mas sem pruridos, é bem o retrato do Alçada Baptista que conhecemos das “charlas” televisivas, ou das conversas em casa de amigos. Com uma escrita sóbria mesmo aristocrata, preocupada com as novas representações do Demónio na Terra, mas consciente da liberdade individual e da falibilidade das grandes acções, excelente contador de histórias que sabiamente se distancia dos mecanismos que desencadeia, António Alçada Baptista cita “O Livro de São Cipriano” a propósito de «amor e droga» na Lisboa de hoje, criando figuras com densidade e verdade deambulando por ambientes que se reconhecem facilmente como reais. A um tom desencantado e simultaneamente optimista que faz grande parte do fascínio desta obra que se lê de um fôlego, como de um fôlego parece ter sido escrita, dada a espontaneidade e escorreiteza do verbo. Sedução que se instala ainda pela recuperação de um certo arcaísmo de conceitos e valores, que se inscreve no interior de uma moderna ficção filosófica. (“Catarina ou o Sabor da Maçã”, Ed. Presença).
sábado, outubro 04, 2008
LIVROS: BEIJOS DE LUZ
 “Nada sei sobre as minhas origens. Nasci em Paris, filho de mãe incógnita e o meu pai fotografava as heroínas. Pouco antes de morrer, confiou-me que eu devia a minha existência a um beijo cinematográfico.” O protagonista chama-se Gilles Hector e, por morte do pai, Jean Hector, famoso director de fotografia nos anos 60 - 70, que iluminou todos os rostos do melhor cinema francês, e ainda de Fellini e Antonioni, Woody Allen e muitos mais, resolve descobrir quem foi a sua mãe, perseguindo-a nos filmes para que o pai criou uma luz tão especial. Advogado, passa horas perdido nas solitárias salas de arte e ensaio onde correm os filmes da “nouvelle vague”, interrogando-se se Anouk Aimée, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Anna Karina ou Catherine Deneuve seriam ou poderiam ser a sua mãe, que nunca conheceu. Ou mesmo Audrey Hepburn.
“Nada sei sobre as minhas origens. Nasci em Paris, filho de mãe incógnita e o meu pai fotografava as heroínas. Pouco antes de morrer, confiou-me que eu devia a minha existência a um beijo cinematográfico.” O protagonista chama-se Gilles Hector e, por morte do pai, Jean Hector, famoso director de fotografia nos anos 60 - 70, que iluminou todos os rostos do melhor cinema francês, e ainda de Fellini e Antonioni, Woody Allen e muitos mais, resolve descobrir quem foi a sua mãe, perseguindo-a nos filmes para que o pai criou uma luz tão especial. Advogado, passa horas perdido nas solitárias salas de arte e ensaio onde correm os filmes da “nouvelle vague”, interrogando-se se Anouk Aimée, Delphine Seyrig, Jeanne Moreau, Anna Karina ou Catherine Deneuve seriam ou poderiam ser a sua mãe, que nunca conheceu. Ou mesmo Audrey Hepburn.Numa dessas sessões conhece uma mulher que se torna uma obsessão amorosa para ele, Mayliss. Por entre sessões de cinema, cafés, o seu apartamento ou a casa de Mayliss, quando o marido desta se ausenta, explode uma paixão tórrida. Descrita de forma muito contida, mas muito sensual. Gilles divide-se, ou une-se?, em busca de duas mulheres enigmáticas, a mãe e Mayliss. Um jogo de espelhos, entre os ecrãs dos cinemas e as esplanadas de Paris, entre apartamentos, entre mulheres, entre investigações que se cruzam, se justapõem, se anulam. A luz dos filmes que o pai iluminou acende fogos por casas por onde vão passando estes amantes embriagados pelo seu desejo.
Um dia, porém, a luz apaga-se, Mayliss afasta-se para sempre na recordação de Gilles. Deixa-a à porta de casa, quando ela esperava/desejava que ele a levasse para um hotel. È o fim das ilusões, e das procuras. É a morte de um amor, o fim de uma obsessão: “Estupefacta, olhou para mim. Havia luz às janelas da sua casa. Eu disse: “Esperam-te”, e depois o táxi arrancou na direcção de Notre-Dame, quilómetro zero. No retrovisor, a silhueta de Mayliss torna-se minúscula.” Assim passam por nós os amores, assim nos libertamos de obsessões que nos amarraram anos de vida.
Belíssimo romance de Eric Fottorino, “A Luz dos Beijos”, editado pela Teorema, numa tradução de Carlos João Correia Monteiro de Oliveira. Eric Fottorino, que vai estar em Lisboa, para o lançamento da edição portuguesa, no dia 21 de Outubro, no IFP, venceu, em 2007, o prémio Femina, e é o actual director do jornal “Le Monde”.
Uma revelação que li sem parar, iluminando-me os dias e as noites, com essa luz sensível de um director de fotografia, ou de um escritor inspirado, que fala do amor e do mistério, do desejo, do cinema e da mulher, presença obsessiva, quer seja mãe ou amante. Uma delicada e fulgurante descoberta. Para quem ama o cinema e a luz que modela os rostos das actrizes, para quem gosta da mulher, para quem sofre por amor, para quem saboreia simplesmente um grande livro. Não percam. Saiu há dias.
sábado, setembro 27, 2008
MACHADO DE ASSIS . CENTENÁRIO
29 e 30/09/2008
09h30 às 18h00
Auditório 3
PROGRAMA (sujeito a alterações)
Dia 29 de Setembro, Segunda-feira
09h30 - Sessão de Abertura : Embaixador Lauro Moreira, Doutor Marçal Grilo e Prof. Doutor Carlos Reis
9h45 - Conferência: “A modernidade e a Universalidade da obra de Machado de Assis” : Prof. Doutor John Gledson
10h30 - Debate
11h30 - Painel Temático: “Machado de Assis e a ficção brasileira” Moderador: Prof. Doutor Carlos Reis
Prof. Doutor António Dimas – “A linhagem feminina na ficção brasileira: de Lívia a Capitu”
Prof. Doutor Antônio Carlos Secchin – “Alencares e Assis”
Profª. Doutora Solange Ribeiro de Oliveira – “A música na ficção de Machado”
14h45 - Conferência: “O significado da obra de Machado de Assis na Literatura de Língua Portuguesa” : Prof. Doutor Abel Barros Baptista
15h30 - Debate
16h15 - Painel Temático: “Machado de Assis e Portugal”
Moderador: Prof. Doutor Carlos Reis
Prof. Doutor Arnaldo Saraiva (título a anunciar)
Prof. Doutora Maria Aparecida Ribeiro: “Machado de Assis, leitor de Camões”
17h45 - Conferência: “Verosimilhança e Verdade”. Prof. Doutor Helder Macedo
19h00 – Música :“A música brasileira no tempo de Machado de Assis” (modinhas, lundus, valsas, polcas e chorinhos) - Recital do Duo Fernando Cupertino e Consuelo Quireze (piano e voz)

Dia 30 de Setembro , Terça-feira
09h30 – Sessão de cinema, com exibição dos filmes: “Alma Curiosa de Perfeição” : documentário sobre a vida e a obra de Machado de Assis, dirigido por Maria Maia
11h00 - “O amor de Machado de Assis pela Língua Portuguesa” : vídeo/depoimento do Prof. Evanildo Bechara
11h30 - “Machado de Assis – o filme” : documentário dirigido por Luelane Corrêa, com depoimentos de Académicos Brasileiros sobre Machado de Assis
14h30 - Comunicação do Cineasta Lauro António: “Machado de Assis no cinema”
15h00 - “Memórias Póstumas de Brás Cubas”: longa-metragem de André Klotzel
 17h00 – Teatro: “Contando Machado de Assis”: O actor José Mauro Brant apresenta os contos “Missa do Galo” e “Mariana”, costurados por fragmentos de “D.Casmurro”. Direcção de Antonio Gilberto
17h00 – Teatro: “Contando Machado de Assis”: O actor José Mauro Brant apresenta os contos “Missa do Galo” e “Mariana”, costurados por fragmentos de “D.Casmurro”. Direcção de Antonio Gilberto LIVROS: APOPLEXIA DA IMAGEM


Convidado a apresentar o livro de estreia de poesia da Maria Quintãns, com ilustrações de João Concha, debato-me com várias inquietações e múltiplas dúvidas. Por exemplo, quem é Maria Quintãns? Claro que não sei. Dizia Sócrates que se “te conheceres a ti próprio, conhecerás o universo e os deuses.” Poucos conhecem o universo, por muito que porfiem, e menos ainda são os que conhecem os deuses, apesar de por eles muito se implorar. Raros serão os eleitos (se os houver) que se “conhecem a si próprios”. Eu desconheço-me, quanto mais à Maria Quintans. Na verdade descobrimo-nos pelas vias ínvias da blogosfera, jantámos juntos pela mão de uma amiga comum que estará certamente hoje aqui presente, a Isabel Mendes Ferreira, tornámo-nos amigos (mas não “conhecidos”!) ao longo dos vários vavadiandos de que somos assíduos frequentadores, já viajámos juntos pelas estradas de Portugal, normalmente rumo a inaugurações de exposições, uma delas precisamente de João Concha, ali para os lados do Ribatejo, mas será que conheço a Maria Quintans? Não me parece.
Cada pessoa é um mundo, onde é difícil penetrar, e ainda bem porque o mistério adensa o apetite. Esta Quintans que alguns ousam tratar por “bandida”, não é exemplo que se furte à regra, tanto mais que, logo desde os primeiros dias em que a li, me deparei com uma escrita que de coloquial não tem nada, que de fácil digestão também não, cuja tecedura de palavras, por muito sedutora que seja a uma primeira vista, não se deixa apreender na ratoeira de uma transparência sem mais. Claro que curiosamente o que mais sei de Maria Quintans me vem precisamente da leitura dos seus textos, quase sempre poéticos, dado que desconheço por completo os seus relatórios de trabalho (suponho que Maria Quintans trabalhe honestamente como qualquer de nós, para lá da sua produção poética!).
Perguntam Vossas Excelências como conheço melhor a Quintans através do que ela escreve do que através dos fortuitos encontros da vida? Pois bem, sempre achei que é através de ler o que alguém escreve que melhor se chega ao interior de quem o escreve (o mesmo se passa com quem pinta, compõe, filma, interpreta, e por aí fora). Isto por quê? Quem escreve fá-lo através da máscara da arte (transfigurando a realidade), o que à partida parece contrariar a minha tese. Engano. Ledo engano, nas palavras de Camões. Quanto mais nos mascaramos, mais nos descobrimos, porque a sugestão da máscara nos leva a falar verdade a mentir. Por miúdos: julgamos estar muito escondidinhos atrás da lograda máscara da ficção, e por isso mais nos expomos. Mais nos confessamos.
Dirão então que tudo é fácil, basta ler-se Freud e aplicar os princípios, e toda a vida humana será vasculhada até ao seu mais íntimo. Outro engano. Ninguém lê “a verdade”, mas “a sua verdade”. Eu leio a prosa poética de Maria Quintans segundo a minha perspectiva, interpreto-a à minha maneira, cozinho-a com os meus condimentos. O resultado final é gastronomia a meias: ela dá o conduto e os acessórios, mas a pimenta, o sal, os coentros, a salsa fica “à minha maneira”, segundo o meu gosto pessoal. Querem uma prova, agora pegando no belíssimo trabalho do João Concha? Agarrem na capa desta “Apoplexia da Ideia” e olhem bem. Nada de concreto nos é dito, apenas sugerido. Neste aspecto João Concha emparelha muito bem com Maria Quintans. Quando a olhei pela primeira vez, vi um revólver e uma alusão nítida a um filme de Edwin S. Porter, o primeiro western da história do cinema, “The Great Train Robbery”, de 1903. Deformação profissional? Parei, olhei melhor e veio-me à imaginação o dedo indicador do Tio Sam nos cartazes que convidavam os americanos a juntarem-se ao exército, não para combater no Iraque ou no Afganistão, mas sim para defender a democracia durante a II Guerra Mundial. Será um dedo indicador apontado à nossa consciência? Reparo agora que também pode ser uma bem profunda vagina, com uma “apoplexia” por cima e uma “da ideia” por baixo. Sugestiva leitura erótica de tons macerados, o vermelho do sangue, o preto na anarquia e uma cinza de extintas fogueiras passadas. Será que é? Quem confessa que teve uma mesma leitura? Expus eu estas leituras a uma pessoa amiga que liminarmente me desmentiu: “nada disso, o que aqui vejo é uma lâmpada da ideia brilhante, e da apoplexia.” Estará certa? Ou estará certo o miúdo que não sabe o que é apoplexia, benza-o Deus!, e explica a capa como “uma bala pendurada por fios de plástico de um “coiso” metálico pregado numa parede forrada a papel de jornal”. Como se vê a cada um a sua verdade. A capa é a mesma, as respostas diversas, até mesmo desencontradas, certamente todas certas e não todas erradas, o mesmo se passando com a poesia de Maria Quintans. Se as interpretações podem ser muitas, a qualidade plástica e a eficácia simbólica de João Concha é indiscutível.
Maria Quintans. Desta mulher de quem já sou amigo, mas de quem desconheço ainda quase tudo, venho falar hoje. Aqui. Na difícil tarefa de “apresentar” uma obra, um filho primogénito. Quero, porém, frisar a frase “de que já sou amigo”. Isto porque não é o facto de ser amigo que me traz aqui. Será talvez muito mais a consciência de que dela desconheço quase tudo, de uma mulher que se propõe estrear-se na publicação de um livro, que se arroja lançar o grito de uma poesia muito pessoal, hermética, críptica, quase impenetrável, mas que soa bem à leitura, que incomoda a compreensão, que sugere imagens infinitas, que desdobra múltiplas interpretações, que oscila entre a elegância e a agressão, entre o rasgão e o afago, entre a dor e o prazer, entre o sangue, a lágrima e húmus vaginal. Aqui estou movido pelo desafio da descoberta.
Sobre essa poesia escrevi o seguinte, procurando dar o melhor de mim mesmo:
A poesia não é fácil. Pode ser clara e transparente, mas só o é na aparência. Pode ser opaca e resistente. A poesia para o ser, exige. Exige da imaginação de quem a concebe, escrevendo-a ou lendo-a, porque a poesia não se escreve só, também se lê. Da cumplicidade de quem a lê para a de quem a forja, de quem a constrói com arte de fio-de-prumo, na engenharia das palavras, dos silêncios, dos paradoxos. “Invoco as figuras de estilo para as queimar na fogueira dos paradoxos normais”, diz Maria Quintans. Queimam-se as regras que normalizam a “poesia (que) não existe”, para das cinzas dessa fogueira se “gozar na cama dos verbos com os substantivos podres a deixar vestígios de sémen no ruído dos ventres impossíveis.”
A poesia de Maria Quintans é isso mesmo, parte da transgressão da normalidade percepcionada, da “apoplexia da ideia”, para o uso imoderado da palavras, procurando pelo caminho, nessa vertigem de iniciado, atingir o vórtice dessa “confusão mental e perda de consciência” que define a afecção cerebral, “fase terminal da desordem do medo.” A poesia destapa emoções ou encobre-as. A poesia de Maria Quintans é exorcismo, desconstrução do universo, sobretudo o universo do interdito, do medo, do silêncio, da dor, da mágoa, da ausência, da lágrima, dos “sacrifícios de morte”, do assombramento… Para que “a pele (seja) um gesto primitivo”, e se “invente a ilusão”. O desencontro: “não penses que é nesse autocarro que vais. eu também não.” Desespero? Sim e não, porque há sempre “um corpo. um caminho a descer na invenção do braço. há um passo.” A poesia de Maria Quintans é sobretudo sensitiva, quando se perdeu, ou se ignorou, o significado das palavras. Ficam os dedos e a pele, a boca e a língua, as mãos e o seio, o ventre e o sexo. “a forma da palavra é o desenho do sonho.” Por vezes o sonho irradia: “e eu, que não sei desenhar, fumo um cigarro na linha das tuas pernas”. Gosto desta poesia que se transfigura, do grito à gruta, da noite ao dia.
Por alguma razão os magníficos desenhos de João Concha acompanham o grito, a negro. “o paraíso é por ali. eu vou por aqui”. Inconciliável.
“os poetas não acabam adormecem” Poetas há que acordam, a meio da noite, para se imporem na asa do dia. “a escrita é o muco do orgasmo”. A sensualidade: na palavra, na frase. Na apoplexia da ideia. A lição dos surrealistas e da escrita automática como forma intima e secreta de escavar no subconsciente. Significativamente, “lobos somos todos”, e “a vertigem não é queda. é só o medo dela.” O medo, o silêncio, o rasgão de luz, as trevas do interdito, com a pele a luzir ao fundo. Um ponto no horizonte do prazer. Indizível. Uma poesia com tacto e olfacto. Um cigarro. O fumo. Um eco de jazz.
26 de Setembro de 2008





_(photo_by_Carl_van_Vechten).jpg)