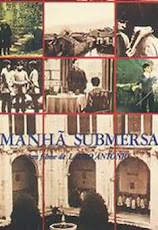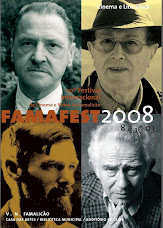Mas o blogue organizava-se de uma maneira muito curiosa. Primeiramente a coerência e o método: durante cerca de três anos, cento e cinquenta semanas, para ser mais exacto, o autor colocava um novo post, um texto relativamente longo onde falava de um filme, de um tema, de um aspecto da vida, de uma curiosidade, de um colaborador de Alfred Hitchcock, mas sempre numa perspectiva muito pessoal.
Depois, estes não eram textos de um crítico encartado sobre um cineasta, eram e são divagações de um cinéfilo que escreve, na primeira pessoa do singular, sobre cinema e um cineasta que admira e ama. São diálogos, quase em tu cá tu lá, entre quem vê um filme e aquele que o concebeu. São dois eus em confronto, de forma descomplexada e simples, mas nem por isso menos profunda, intelectualmente ágil e estimulante.
Quem é este José Varregoso que assim aparece primeiro num blogue, agora em livro reunindo as crónicas, os cento e cinquenta posts ali previamente publicados? Pouco sei do autor, falei com ele uma vez, para ele me entregar o livro que li com proveito e curiosidade, mas acho que o que ele diz de si próprio no prefácio do volume que temos agora nas mãos é o bastante, pelo menos o essencial:
Escreve ele na apresentação do blogue e no primeiro texto desta obra: “Isso da identidade pessoal de cada um de nós tem muito que se lhe diga. Deixem-me contar-vos desde já que estudei Antropologia e que, portanto, me sinto rudimentarmente habilitado para falar daquilo que pode moldar a personalidade de um ser humano. Bem sei que é inevitável que se fale da soma de muitos factores biológicos, sociais e culturais. Mas é também certo que o percurso biográfico de alguém é sempre marcado pelo nível dos seus interesses e paixões particulares. Pelas suas inclinações emocionais ou psicológicas. Cada pessoa representa uma soma imensa de factores. Vejam-me como um hitchcockiano.”
E precisa o contexto do seu trabalho: “Conto publicar aqui, com regularidade, crónicas sobre o Cinema, a Vida e o Suspense. Três valores esses que serão temáticas permanentes nas minhas reflexões.”
José Varregoso tem depois algumas qualidades apreciáveis. Escrever sobre cinema (como sobre qualquer forma de expressão artística) pode ser tarefa a cumprir de muitas formas e algumas delas bastante entediantes para quem lê. Escrever simples e claro, sem que isso torne linear e desprovido de qualquer profundidade de análise o que se escreve, não é tarefa fácil. Por isso muitos escrevem “difícil” e “arrevesado” para se darem ares e assim julgarem colmatar a falta de profundidade e de originalidade.
José Varregoso sabe-o bem e tem consciência disso quando afirma: “Procurarei aqui nunca parecer entediante nem presunçoso; escrever sobre o que me agrada e motiva a compor um texto; e não esquecer que escrevo para ser lido. Porque escrever é um meio de comunicação e não tão só um meio de encontro do escritor consigo mesmo e com os seus ideais.”
E precisa o objecto da sua análise: “Claro está que um dos pontos de referência das minhas crónicas será a figura de Alfred Hitchcock. O que ela significa para o Cinema e como reflecte perspectivas de vida e conceitos culturais variados. Já saberão portanto que Hitchcock será uma figura emblemática da minha escrita neste blog. Mas não pretendo construir um site sobre o cineasta e sobre a sua filmografia. Procurarei antes contar a quem me ler como algum do cinema de Hitchcock me tem influenciado. Quero escrever sem moldes estritamente definidos. Escrever sem orientações rígidas. Cada crónica terá a sua vida própria e cumprirá o seu objectivo, mas gostava de pensar que o conjunto de todos os textos aqui apresentados reflectirá uma lógica e uma coerência uniformes.”
José Varregoso apresenta-se também de forma discreta: “Sou um cinéfilo mas não me devem ler como um crítico de cinema esclarecido, nem tão pouco como um filósofo ou um cientista social.”
O que me interessou particularmente neste trabalho, além da paixão que testemunha, é a reflexão sobre temas tão caracteristicamente hitchcockeanos como a construção do suspense, a utilização do medo, a definição de personagens femininas, o amor e o sexo na obra deste cineasta, o falso culpado, o mistério da morte, entre muitos outros. Depois, José Varregoso é também um coleccionador de curiosidades, um cocabichinhos que nos dá a lista das aparições de Hitchcock em todos os seus filmes, todos os seus trabalhos para a televisão, um nota sobre o trabalho fotográfico que a “Vanity Fair” fez para homenagear o cineasta, e tantas outras preciosidades. Muitas de difícil conhecimento e acesso para o leitor comum.
Mas como de um blogue se tratava “Eu, Hitchcockiano, Me Confesso” acompanhava também o dia a dia do autor, que tanto pode falar de amigos e amizade (citando os bons e maus amigos dos filmes de Hitch), como saudava as celebrações de um novo ano com champanhe made in Hitchcock.
“Perdoem-me se estas linhas carecerem de humor e de irreverência.”, diz José Varregoso. “Acho que sou um homem sério e frequentemente sisudo e circunspecto. Mas não me levem demasiadamente a sério. Nem tão pouco me identifiquem com um intelectual esclarecido apostado em ensinar aos outros como devem entender a Vida e o Cinema. Vejam-me antes como um hitchcockiano... Nada mais...”
Lendo “Eu, Hitchcockiano, Me Confesso” cedo se perceberá que Varregoso não só tem humor, como também o utiliza de forma criteriosa. Esta última citação testemunha-o. E se não está saudavelmente “apostado em ensinar aos outros como devem entender a Vida e o Cinema” (basta os que já existem e são tantos!), não deixa de ser verdade que é um esclarecido e apaixonado hitchcockiano. Que para quem gosta de cinema, de suspense, e da vida… é quanto basta.
Lauro António, Cinemas King, bar, 21 de Novembro de 2009

 “The Dresser”, de Ronald Harwood, é uma excelente peça sobre o mundo fascinante do teatro, com as luzes do o palco vistas do seu interior e dos bastidores. O que possibilita um jogo de claro-escuro que permite toda a magia do espectáculo. Dois homens dialogam em palco, o actor, encenador, empresário, vedeta shakespeariana que é designado por Sir, e o seu camareiro, amigo e confidente Norman. Eles são respectivamente Ruy de Carvalho e Virgílio Castelo, ambos com duas soberbas interpretações, daquelas para perdurar na memória. Se do primeiro nada de diferente seria de esperar, já a interpretação de Virgílio Castelo ultrapassa tudo o que dele viramos até hoje.
“The Dresser”, de Ronald Harwood, é uma excelente peça sobre o mundo fascinante do teatro, com as luzes do o palco vistas do seu interior e dos bastidores. O que possibilita um jogo de claro-escuro que permite toda a magia do espectáculo. Dois homens dialogam em palco, o actor, encenador, empresário, vedeta shakespeariana que é designado por Sir, e o seu camareiro, amigo e confidente Norman. Eles são respectivamente Ruy de Carvalho e Virgílio Castelo, ambos com duas soberbas interpretações, daquelas para perdurar na memória. Se do primeiro nada de diferente seria de esperar, já a interpretação de Virgílio Castelo ultrapassa tudo o que dele viramos até hoje.








 “Romance”, baseado no “Romance de Tristão e Isolda”, é uma complexa história de amor que reflecte igualmente sobre a paixão e a criação artística, neste caso o teatro e a televisão. Um encenador e actor de teatro, Pedro (Wagner Moura) apaixona-se por Ana (Letícia Sabatella), actriz com quem contracena na peça “Tristão e Isolda”. Enquanto no palco os assaltam dilemas da história que deu origem à ideia do amor romântico, nos bastidores, o casal esbarra nos obstáculos do amor actual, muito mais condimentado com paixão, ciúme, rotina, trabalho, arte e indústria... É possível um amor feliz? Do teatro e de um falhanço sobre o seu próprio amor, passa-se para a televisão e uma segunda oportunidade: Ana propõe a Pedro que a dirija num especial de fim de ano para a TV. A história escolhida é precisamente “Tristão e Isolda”, agora adaptada ao Nordeste brasileiro.
“Romance”, baseado no “Romance de Tristão e Isolda”, é uma complexa história de amor que reflecte igualmente sobre a paixão e a criação artística, neste caso o teatro e a televisão. Um encenador e actor de teatro, Pedro (Wagner Moura) apaixona-se por Ana (Letícia Sabatella), actriz com quem contracena na peça “Tristão e Isolda”. Enquanto no palco os assaltam dilemas da história que deu origem à ideia do amor romântico, nos bastidores, o casal esbarra nos obstáculos do amor actual, muito mais condimentado com paixão, ciúme, rotina, trabalho, arte e indústria... É possível um amor feliz? Do teatro e de um falhanço sobre o seu próprio amor, passa-se para a televisão e uma segunda oportunidade: Ana propõe a Pedro que a dirija num especial de fim de ano para a TV. A história escolhida é precisamente “Tristão e Isolda”, agora adaptada ao Nordeste brasileiro. Santiago
Santiago.jpg) “Santiago” é um documentário sobre um filme inacabado. Santiago, uma personagem inesquecível, um homem de vasta cultura e memória prodigiosa, era mordomo em casa de um diplomata, pai do realizador João Moreira Salles que ali viveu a meninice, e cujas recordações o levaram, há uns anos atrás, a tentar dirigir um filme que não conseguiu terminar na altura. Anos depois, retoma o filme em busca das razões que o fizeram falhar. “Santiago” é um filme sobre memória, identidade e a própria natureza do documentário. Uma jóia cinematográfica, arrisco-me a considerá-lo uma obra-prima que não desmerece a cada nova visão e leitura (sobre o mesmo já escrevi
“Santiago” é um documentário sobre um filme inacabado. Santiago, uma personagem inesquecível, um homem de vasta cultura e memória prodigiosa, era mordomo em casa de um diplomata, pai do realizador João Moreira Salles que ali viveu a meninice, e cujas recordações o levaram, há uns anos atrás, a tentar dirigir um filme que não conseguiu terminar na altura. Anos depois, retoma o filme em busca das razões que o fizeram falhar. “Santiago” é um filme sobre memória, identidade e a própria natureza do documentário. Uma jóia cinematográfica, arrisco-me a considerá-lo uma obra-prima que não desmerece a cada nova visão e leitura (sobre o mesmo já escrevi 
.jpg) “Chega de Saudade” é nome de clube de dança, na noite de São Paulo. Nessa sala de baile, frequentada predominantemente pela terceira idade, acompanhamos amor e ciúmes, dramas e alegrias, aventuras e desventuras de cinco núcleos de personagens que frequentam habitualmente aquela sala. Tudo começa quando a sala abre, pelas cinco da tarde, o pano corre quando a sala fecha por volta da meia-noite. Tudo se passa em meia dúzia de horas, crescendo a intensidade dramática (e erótica) à medida que as horas decorrem, os chopes e o whisky desaparecem, e os olhares se vão cruzando com um furioso desejo que mistura impotência e impetuosidade incontida. E repetidas frustrações. E alegrias breves, “uma hora de cama vale bem uma vida sem nada”. A condição humana concentrada num laboratório de análise, prefigurado numa sala de baile, como já o havia feito Ettore Scola, em “O Baile”, mas com outras intenções, ou Sydney Pollack, em “Os Cavalos Também se Abatem”, mas num outro contexto, ou “O Baile dos Bombeiros”, de Milos Forman, mas por detrás da “cortina”.
“Chega de Saudade” é nome de clube de dança, na noite de São Paulo. Nessa sala de baile, frequentada predominantemente pela terceira idade, acompanhamos amor e ciúmes, dramas e alegrias, aventuras e desventuras de cinco núcleos de personagens que frequentam habitualmente aquela sala. Tudo começa quando a sala abre, pelas cinco da tarde, o pano corre quando a sala fecha por volta da meia-noite. Tudo se passa em meia dúzia de horas, crescendo a intensidade dramática (e erótica) à medida que as horas decorrem, os chopes e o whisky desaparecem, e os olhares se vão cruzando com um furioso desejo que mistura impotência e impetuosidade incontida. E repetidas frustrações. E alegrias breves, “uma hora de cama vale bem uma vida sem nada”. A condição humana concentrada num laboratório de análise, prefigurado numa sala de baile, como já o havia feito Ettore Scola, em “O Baile”, mas com outras intenções, ou Sydney Pollack, em “Os Cavalos Também se Abatem”, mas num outro contexto, ou “O Baile dos Bombeiros”, de Milos Forman, mas por detrás da “cortina”.