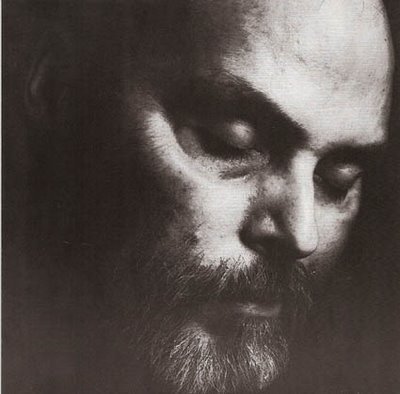“MÚSICA NO CORAÇÃO”
Dia 5 de Outubro (“Viva a República!”), 21,30 horas, Rua das Portas de Santo Antão, Lisboa. Ante-estreia de “Música no Coração”, no Politeama, estreia de “Cats”, no fronteiriço Coliseu. A nossa pequena Broadway a fervilhar de público. Milhares a esgotarem salas de teatro. Crise de teatro, onde?
No Politeama, um belo catálogo, com um texto meu, que transcrevo:
Meu Caro Filipe La Féria,
É mais uma vez com imenso prazer que respondo a um seu convite: escrever um texto para o programa de “Música no Coração”, tendo por base o filme de Robert Wise (1965). Mas desta vez o convite é embaraçoso. Há alguns filmes sobre os quais tenho uma recordação ambígua. Este é um deles. Ao longo da vida fui gostando e desgostando. Gostando de Robert Wise (sempre!), gostando e desgostando de tudo o resto, porque a vida é feita de bons e maus humores.
Quando somos mais novos, mais radicais, menos dados à sensatez, “The Sound of Music” deve ser pasto de toda a nossa verrinosa maledicência. Que dizer desta empastelada aventura sentimental da família Trapp? Pois nada melhor que arrear-lhe em cima. Mesmo um cliente habitual e um fanático do “musical” (no teatro ou no cinema) como eu, nunca viu com bons olhos esta lamechice da freira cantante que se apaixona pelo barão viúvo com sete filhos e foge dos nazis a cantar num festival de Salzburg. Mas a verdade é que vi várias vezes o filme, ou excertos do filme (sobretudo nas vésperas de Natal, num qualquer canal de TV). É que “Música no Coração” tem muito que se lhe diga, tanto a peça, como sobretudo o filme.
“The Trapp Family Singers” foi a biografia escrita por Maria Augusta Trapp, publicada em 1947, quando a família já tinha terminado a sua carreira como cantores, contando as mirabolantes peripécias de uma preceptora de criancinhas que interrompe o seu estágio para freira para descobrir a verdadeira “vida” na casa dos Trapp, com todo o seu caudal de promessas de felicidade e ameaças de tragédia. Com base nesta autobiografia, surgiu na RFA, em 1956, um filme, “Die Trapp-Familie” (ou “The Trapp Family”), assinado por Lee Kresel e Wolfgang Liebeneiner, com argumento de George Hurdalek e Herbert Reinecker, que parece estar na origem do interesse dos produtores norte-americanos. Entre os intérpretes, contava-se a memorável Ruth Leuwerik (no papel de Maria), ao lado de Hans Holt (Barão von Trapp), Maria Holst, Josef Meinrad, Friedrich Domin, Hilde von Stolz, Agnes Windeck, Gretl Theimer, etc. Na estreia, a baronesa Von Trapp, sobrevivente ainda da gesta coral da família, teve uma deixa memorável: “Nada é verdadeiro, mas é tudo maravilhoso!” A música era de Franz Grothe, e a premissa do filme enquadrava-se bem no espírito da reconstrução alemão, “para todos os problemas, há uma solução”.
O realizador Wolfgang Liebeneiner era um homem experimentado neste tipo de obras, e teve um sucesso inequívoco. Há no argumento desta obra um final que deixa supor que a família Trapp fugiu da Alemanha nazi directamente para os EUA, o que não aconteceu na realidade, pois ficaram na Europa e só em 1939 iniciaram a tournée pelos Estados Unidos. Essa estadia daria origem a uma continuação, “Die Trapp-Familie in Amerika” (“The Trapp Family in America”) (1958), desta feita dirigida unicamente por Wolfgang Liebeneiner. Ruth Leuwerik regressaria no papel da Baronesa von Trapp, e Hans Holt, no de Barão von Trapp.
Foram estes filmes, e a biografia escrita, que inspiraram Oscar Hammerstein II a escrever as líricas e Richard Rodgers a compor a música para um guião de Hopward Lindsay e Russell Crouse, que subiu a cena no Lunt-Fontanne Theatre (Nova Iorque), em 16 de Novembro de 1959, para iniciar uma carreira épica na história do musical norte-americano. Mary Martin e Theodore Bikel eram os protagonistas inspirados que “conquistaram os corações” de todos os espectadores na noite da estreia, com excepções de alguns críticos que colocaram ressalvas a este espectáculo. Mas neste caso os críticos escreveram e a caravana passou incólume. O sucesso estava na rua. Nada o detinha.


Versões teatrais anteriores, em Londres e Nova Iorque: veja e compare. La Féria dá banhada: a sua versão é muito melhor.
“Música no Coração” transformou-se daí em diante, seguramente, num dos mais célebres e rentáveis espectáculos de toda a história do teatro e do cinema musicais. O seu êxito triunfal em (quase) todas as temporadas teatrais e o seu apoteótico sucesso nas salas de cinema, aquando da estreia do filme assinado por Robert Wise, que esteve em Lisboa (quem não recorda?), quase dois anos consecutivos no Tivoli, com sessões esgotadas e espectadores que repetiam a sua visão vezes sem conta, não termina de surpreender tudo e todos. Ninguém se furta agora, por exemplo, ao fascínio de um novo lançamento em DVD (com dezenas e dezenas de extras, a explicar como foi o que foi), e ninguém pode negar a genialidade de Robert Wise a conduzir este filme, muito embora alguns possam não suportar o tom algo lamechas e o peso de um argumento que, não sendo convencional, acaba por não se furtar a todos os rodriguinhos do melodrama musical.

Acontece que gosto de melodramas (ah, o Douglas Sirk!) e adoro musicais. Logo, por que não gostar deste “dois em um” que, para mais tem uma soberba partitura musical? Revisto agora o filme, o que sobressai é realmente a portentosa realização de um mestre, Roberto Wise. A sua relação com os cenários, a forma como enquadra, como movimenta a câmara, como dirige os actores, como se serve da sumptuosa paisagem, como estabelece a relação entre as personagens no interior de um mesmo plano (como realiza a “mise-en-scène”, em suma) é realmente brilhante. Depois a história por vezes arrasta-se nalguns convencionalismos escusados. Mas a verdade é que o filme sobrevive, e sobrevive bem.
Fui remexer em papéis antigos e descobri uma nota minha no DN sobre uma reposição do filme de Julho de 1977. Não se esqueçam da data e atentem no que escrevi: “Falando do filme, o melhor será passar por cima das aventuras e desventuras da família Trapp (que todos conhecem), para reconhecer a maestria extrema deste produto de uma cinematografia virada essencialmente para o “divertimento para toda a família.” Veiculando uma filosofia da vida de base “pequeno-burguesa”, jogando com os sentimentos e as emoções a seu belo prazer, “The Sound of Music” é, por outro lado, uma verdadeira lição de técnica e de “métier”. Por alguma razão Mao Tse Tung, quando quis que os chineses aprendessem cinema, lhes comprou, entre outras (poucas), uma cópia deste “manual”.

Ora bem: com uma ou outra alteração terminológica, mantenho o que então disse, acrescentando que, trinta anos depois, os chineses demonstraram ter aprendido, e muito bem, a fazer cinema. Robert Wise foi um dos grandes cineastas de Hollywood, um homem que começou a carreira ao lado de Orson Welles (colaborador essencial em “Citizen Kane”) e construiu depois uma filmografia invejável. Eu sou um fã incondicional. De tal forma, que há uns anos, num festival de Óbidos, ele foi o presidente de um Júri de que eu também fazia parte. Infelizmente adoeci e não pude estar presente nos trabalhos do festival, mas fui a Óbidos conhecê-lo, só para ter o prazer de o olhar nos olhos. Afinal ele assinou uma dezena de obras-primas, desde “O Túmulo Vazio” (1945), até “West Side Story” (1961), passando por “Nascido para Matar”, “Nobreza de Campeão”, “O Dia em que a Terra Parou”, “Marcado pelo Ódio”, “Quero Viver”, “Homens no Escuro”, não contando com os ameaços.
Uma informação final: outro filme surgiu na continuação de “Música no Coração”. Foi “Celebrate the Sound of Music”, de 2005, uma realização de John L. Spencer, para televisão, e, tal como o próprio título sugere, trata-se de uma homenagem ao filme, com participação de cantores e personalidades que evocam a obra. Graham Norton era o apresentador, e apareciam vozes de Big Brovaz, Clare Buckfield, Fearne Cotton, Rosemarie Ford, Lesley Garrett, Carrie Grant, Jill Halfpenny, Gloria Hunniford, Bonnie Langford, Jon Lee, Robert Lindsay, Richard McCourt, Linda Robson, Denise Van Outen, entre outras.
Agora anuncia-se a versão teatral portuguesa de “Música no Coração”, com a sua assinatura, Filipe La Féria, e com um elenco prestigiado, à frente do qual Lúcia Moniz e Anabela alternam no papel de “A Noviça Rebelde” (título do filme no Brasil). Com a partitura de Oscar Hammerstein II e Richard Rodgers, que contém só “hits” inesquecíveis, o seu bom gosto, o seu sentido do espectáculo, o seu ritmo e a sua direcção de actores estou certo que desta minha embaraçosa ambiguidade vão ressaltar as virtudes e atenuarem-se os lamentos.
Lá estarei na estreia, a torcer como sempre. Até lá, um abraço de um cúmplice dos musicais,
Lauro António (14 de Agosto de 2006).

La Feria em ensaios, em Agosto de 2006.

E assim foi, Lá estive na estreia, a torcer como sempre. Mas sem necessidade de torcer por amizade. Esta montagem portuguesa de “Música no Coração” é verdadeiramente surpreendente e um enorme passo em frente na história do musical em Portugal, mas mais ainda, na história do teatro em Portugal.
A encenação e o trabalho da equipa que La Feria dirigiu conseguiu, não direi subverter (porque a fidelidade ao original é total), mas nuancear o tom da obra, conferindo-lhe uma outra força e densidade, tornando-a mais adulta, mais madura, menos dependente desses excessos piegas que dela me afastavam por vezes. Tudo o que o filme de Robert Wise tinha de moralista, pequeno burguês, por vezes chato, foi ultrapassado pela notável encenação de Filipe La Féria. Não há um ponto morto, atenuou-se o moralismo serôdio, não há o gosto duvidoso do “pequeno-burguês” “pimbalheiro” que aqui e ali aflorava no filme admiravelmente cantado por Julie Andrews. Como por milagre, esta é uma versão expurgada de quase todos os defeitos das versões teatrais e cinematográficas que até hoje tinha visto descrevendo a odisseia da Família Von Trapp.

A história é, sem tirar nem por, a já conhecida, não adianta recontá-la. Mas La Féria teve o condão de tornar mais densas as situações, de criar uma atmosfera pesada e prenunciadora de tempestade, logo desde início da peça. Todas as cenas que se passam no convento, por exemplo, não são meras convenções pitorescas, mas momentos carregados de um clima forte, sustentados em cantos graves, entrecortados por irónicas referências. O drama que se vai apoderando da família Trapp é também ele bem desenvolvido, até culminar na fuga de Áustria, perante a ameaça nazi. Há sequências de uma imaginação de encenação notável, o piquenique na montanha com as notas de música a serem ensinadas por Maria, a representação das “marionetas” durante uma festa em casa dos Von Trapp, a apresentação da família de cantores, durante o festival de Salszburgo, a fuga final…

La Féria terá construído o seu melhor espectáculo até à data, e o triunfo apoteótico que marcou o final da representação, na noite do dia 5, foi apenas merecido. Quando digo melhor espectáculo, creio saber do que falo, eu que tenho acompanhado toda a sua carreira. Se “Amália” era um triunfo, mas tinha uma encenação ligeira e vivia muito da própria Amália, da sua mítica “presença” e da empatia do público para com a Diva, o fado e a “canção nacional”, se “My Fair Lady” era uma excelente encenação (mas algo próxima de outras vistas em palcos ingleses e americanos), esta encenação de “Música no Coração” pouco deve a versões anteriores. È nitidamente uma re-invenção local, obra de um inspirado encenador, em momento de acerto global, criando uma (quase) obra perfeita, tecnicamente irrepreensível, esteticamente de um bom gosto inatacável, humanamente de uma contextura indesmentível.
Depois La Féria não se poupou a nada para nos dar o grande espectáculo idealizado. Não se nota falta de orçamento, os valores de produção surgem a cada novo quadro, mas existe sempre o bom senso de não explorar o investimento, de não atirar à cara dos espectadores o capital empatado. Sentem-se os euros que a encenação custou, mas nunca levamos com eles pela cara dentro.

Há dias, quando, no jornal “Público”, perguntavam a La Féria o que sentia quando o comparavam a Andrew Lloyd Webber, respondia este com graça que um andava de helicóptero particular, entre Londres e Nova Iorque, e ele de táxi entre Santos e o Politeama. Depois desta encenação, e sem que nenhum tenha para dar ao outro lições, a diferença é mesmo essa. Ver “Música no Coração” em Lisboa, nesta encenação de La Féria, com a equipa que reuniu, não fica nada atrás de uma qualquer encenação na Broadway ou no West End. Muitos londrinos e nova-iorquinos apreciadores de musicais poderiam, e deveriam, vir a Lisboa ver esta versão de “Sound of Music” para assistirem a um óptimo espectáculo, um dos melhores espectáculos de teatro (não falo só de musicais!) que tive o prazer de ver em palcos portugueses. La Féria está de parabéns, ele e toda a sua equipa, dos cenários ao guarda roupa, das maquinarias do sobe e desce até às luzes, da orquestra aos cantores, aos actores, aos grupos de crianças que se revezam nos diferentes espectáculos. Na noite da primeira ante-estreia vi Lúcia Moniz em grande, inundando o palco com a voz, a alegria e a simpatia (hei-de voltar para ver Anabela, que manterá o espectáculo ao mesmo nível, estou certo disso), vi Carlos Quintas impor-se no difícil Von Trapp, vi Joel Branco, Vera Mónica, Helena Rocha, Helena Vieira, Helena Afonso, Lia Altavila em excelente forma, vi um conjunto de coadjuvantes bem integrados, vi um elenco quase sem mácula. Vi um grande espectáculo. Fiquei feliz por ser português. Na Rua das Portas de Santo Antão. No dia 5 de Outubro.
(Nota pessoal: também fiquei feliz por ver o Frederico como assistente de encenação e autor de tudo quanto sai em vídeo sobre o espectáculo. Parabéns também para ele. No meio disto tudo, és um gajo com sorte, mas merece-la! Um beijo do pai babado).

Andrew Lloyd Webber anuncia o mesmo espectáculo
para Londres, em Novembro: